Fernando Schuler: “As pessoas sabem que a administração do Central Park é privada?”

O cientista político e professor do Insper Fernando Schüler falou ao Estado da Arte sobre o resultado das eleições municipais de 2016. Este é o momento de pensar na boa gestão que o setor público pode e deve oferecer à sociedade. Diante das críticas a propostas de modernização na administração municipal, Schüler questiona: “Será que as pessoas sabem que o Central Park, em Nova York, é gerido por uma organização privada? Que o mesmo acontece com o sistema de bibliotecas públicas da Big Apple, que funciona perfeitamente bem?”. Leia mais Originalmente publicado no Estadão/Estado da Arte em 07/10/16
O Brasil precisa aprender a fazer escolhas difíceis

O ex-Presidente Fernando Henrique afirmou, dias atrás, que o Brasil precisa de uma nova onda de privatizações. “O que puder privatizar, privatiza”, disse FH, “ou você terá outro assalto ao Estado por parte dos setores políticos e corporativos”. O diagnóstico deixou muita gente surpresa. Na algazarra das redes sociais, Fernando Henrique costuma ser tratado como um teimoso social democrata, avesso a reformas de mercado e à retórica liberalizante. Injustiça. Em seu governo, o ex-Presidente estabilizou a economia e comandou um amplo programa de privatizações. Mas isto são aguas passadas. Seu diagnóstico é para hoje. Seu foco é apontar um dos tantos caminhos que o País terá de trilhar se quiser sair desta crise, lá adiante, melhor do que entrou. O raciocínio de FH é simples: quanto mais áreas da economia funcionarem sob a logica do mercado político, mais incentivo existirá para sua “captura” – por vias legais ou ilegais. Na prática: se há boa chance de obter um financiamento a juros subsidiados no BNDES por que as empresas buscariam competitividade no mercado de crédito privado? O mesmo vale para temas de regulação e política fiscal. Os economistas Marcelo Curado e Thiago Curado conduziram um estudo mostrando que as isenções fiscais (envolvendo incentivos para a indústria automobilística, Zona Franca de Manaus e uma enorme gama de benefícios setoriais) saltaram de R$ 24 bilhões para R$ 218 bilhões entre 2004 e 2013. Ao invés de optar por um modelo de impostos baixos e igualdade diante da lei, escolhemos o caminho inverso: carga tributária alta e alocação desigual, segundo a capacidade de pressão de cada setor econômico. Curiosa lógica tropical: oneração fiscal para todos e desoneração para muitos, de acordo com critérios e regras frequentemente difíceis de compreender. A mesma lógica invade o sistema político. Exemplo perfeito é o curioso sistema de fatiamento do orçamento federal com base nas chamadas “emendas parlamentares”. Cada parlamentar pode apresentar até 25 “emendas individuais,” no valor total de R$ 15,3 milhões (ano base 2017). Os recursos vão para as regiões e prefeituras da base eleitoral do parlamentar. Servem como moeda eleitoral e criam uma enorme vantagem competitiva para os candidatos detentores de mandatos. Geram desigualdade eleitoral e dificultam a renovação política. O Governo, por sua vez, dita o ritmo da liberação das emendas conforme sua conveniência política. Patrimonialismo em dose dupla: do deputado em relação a sua base política e do governo em relação ao parlamento. O custo, como de hábito, vai para o contribuinte. O País apostou, desde o processo de redemocratização, em uma combinação explosiva: um Estado grande e interventor, com ampla capacidade de alocação discricionária de recursos, e um sistema de financiamento empresarial de campanhas. Durante décadas, incentivamos nossos candidatos, de vereador a presidente, a sentar em uma mesa e pedir dinheiro aos mesmos empresários que logo ali à frente concorreriam para administrar um sistema de abastecimento de agua, no município, ou fariam lobby, no Congresso, para obter um regime fiscal especial. Um modelo fadado a produzir os resultados que ora estamos colhendo O problema foi, em parte, corrigido em 2015, quando o STF proibiu o financiamento empresarial de campanhas. Tratou-se da face mais simples do problema, e em grande medida ilusória. Empresários podem fazer contribuições na “pessoa física”, para não falar da praga do caixa dois. A questão central é enfrentar o lado mais difícil do problema: diminuir a vulnerabilidade do Estado brasileiro à pressão dos interesses especiais. À lógica das corporações, do lobby empresarial e do próprio sistema político. Para que isto aconteça, não há outra saída: o Estado precisa diminuir de tamanho. Fernando Henrique tem razão, neste sentido. É preciso transferir os recursos do FGTS para gestão privada e concorrencial; privatizar as empresas que produzam bens e serviços de mercado; migrar o sistema previdenciário para modelos de capitalização; contratualizar a prestação de serviços públicos não exclusivos de Estado com o setor privado (como já se faz com as organizações sociais da saúde); fechar velhas autarquias e fundações estatais criadas no período anterior à Constituição e que hoje perderam relevância social e econômica. Há uma extensa agenda aí. Uma agenda de desestatização da sociedade e despatrimonialização do sistema político. Sua execução exige clareza e liderança política. Exige mais: um novo “consenso majoritário” da sociedade voltado à modernização do Estado. Algo da mesma dimensão que soubemos produzir, nos anos 80, em torno da redemocratização do País. Não se trata de tarefa simples. Fazer escolhas difíceis nunca foi uma especialidade brasileira. Ainda sofremos para flexibilizar regras de uma lei trabalhista feita nos anos quarenta e para fixar uma idade mínima para a previdência que países como Chile e Argentina há muito estabeleceram. Nosso maior risco, no fundo, é a inércia. Ver o tempo passar, jogar fora o esforço feito com a aprovação da PEC do gasto público, assistir o custo previdenciário corroer lentamente as contas públicas. Tropeçar na armadilha da renda média e das velhas ilusões. Envelhecer, quase sem notar, antes mesmo de nos tornarmos jovens. Fernando Schuler é cientista político e professor do Insper
O mal-estar da democracia

Um espectro ronda a democracia. A confiança nos valores e instituições democráticos vem declinando, década a década. De acordo com o World values survey, apenas 30% da geração millenial (nascidos após 1980), nos Estados Unidos, acha que é “essencial” viver em uma democracia, contra 58% da geração baby boomer, nascida no pós-guerra. Mais recentemente, entre 1995 e 2011, saltou de 16% para 24% o percentual de jovens que consideram a democracia simplesmente um “sistema ruim”. No Brasil, há sinais na mesma direção. A série de pesquisas conduzidas pelo professor José Álvaro Moisés, da Universidade de São Paulo, mostra que, entre 2006 e 2014, caiu de 19% para 14% o grau de confiança das pessoas nos partidos políticos e cresceu de 15% para 20% a aprovação da ditadura. Diante desses dados, o primeiro desafio é evitar a tentação das respostas simples a problemas complexos. O mundo viveu uma fase de euforia democrática no final do século passado. Seria, no mínimo, ingênuo imaginar que tudo se perdeu no espaço de pouco mais de uma década. A Freedom House identificou um declínio da democracia nos últimos 11 anos. O relatório de 2017 fala da emergência de velhos nacionalismos e da ameaça populista. Fenômenos como Trump, Marine le Pen ou o Brexit seriam bons exemplos desse recuo. Lugar-comum. Quando a velha Inglaterra faz um plebiscito para decidir se permanece ou não na União Europeia, o que ela faz é dar uma aula de democracia, não o contrário. Você pode não concordar com o eleitorado inglês. Eu também posso, o que é inteiramente irrelevante. O ponto é que a democracia não pode ser julgada por nosso eventual desacordo com as escolhas que as pessoas fazem. Governos populistas e arroubos nacionalistas são produtos típicos da democracia, não sua negação. A ideia de que a democracia produziria sempre decisões condizentes com uma visão de mundo cosmopolita não passa de uma quimera. Há uma interpretação otimista para o mal-estar da democracia. Ela diz que não há uma crise em seus valores, mas a emergência do “cidadão crítico”. Vivemos em um mundo mais urbano, com mais informação e renda. O mercado incorporou rapidamente os ganhos da revolução tecnológica, e o Estado não. Além disso, o Estado cresceu demais, a linguagem política envelheceu e as pessoas se distanciaram da política tradicional. O cidadão ganhou poder, cobra eficiência dos governos e é menos tolerante com a corrupção. Por óbvio, há aí o efeito breaking news, na expressão de Fareed Zakaria. Ele é dado pela contradição entre o mundo que nos aparece, dia a dia, hora a hora, no espaço digital, e o universo opaco da realidade. Nós achamos que a violência aumenta, mas os dados mostram que ela diminui; achamos que a pobreza cresce, mas a estatística diz o contrário. Neste universo de cidadãos crescentemente desconfiados das instituições, há uma explosão de ativismo em rede, multiforme e “fora de controle”. Vivemos a época dos “cidadãos ativos”, para usar uma expressão cara a John S. Mill. E isso tem um preço. Vai aí meu ponto: a democracia, nesta década incerta, não vive uma crise, mas um tempo de exuberância, que desaloja velhos partidos e lideranças, gera instabilidade e aumenta o custo do consenso. Daí o mal-estar. Vale observar o que se passa com a representação política. Instituições e elites políticas, na democracia liberal, funcionavam como filtros e freios para a opinião caótica dos cidadãos. Era o papel dos partidos, do Parlamento e mesmo da imprensa profissional. A revolução tecnológica subitamente envelheceu essas instituições. As pessoas descobriram que são capazes de atuar diretamente no mercado político. As instituições não estavam preparadas para lidar com a revolução digital do mesmo jeito que a velha democracia censitária não estava para lidar com a sociedade industrial emergente da virada para o século XX. A democracia vive um tempo de “destruição criadora”. O que resultará disso tudo? Difícil dizer. Por certo teremos cada vez mais uma “democracia vigiada”. Ainda me lembro de um texto de Norberto Bobbio, dos anos 1970, sobre “as promessas não cumpridas da democracia”. Uma delas dizia respeito ao “poder transparente”. Certo à época, Bobbio estaria errado agora. Os meios eletrônicos e a explosão da mídia tornarão o poder cada vez mais transparente. Não sei o que as pessoas farão com toda essa informação. Provavelmente vão vociferar e emitir juízos sumários nas redes sociais. Isso tornará cada vez mais difícil a vida do homem público. Sua vida privada virtualmente desaparecerá. Seu passado será esquadrinhado e tornado um eterno presente. Perderemos a capacidade de esquecer, essa “condição da vida”, como sugeriu Nietzsche, que nos permite reconciliar, levantar a cabeça e seguir em frente. O futuro da democracia, diferentemente do que acreditava Bobbio, está não em sua penetração em mais e mais espaços da vida social, mas precisamente em sua contenção. A revolução tecnológica e o crescimento econômico deram poder ao indivíduo, e é possível pensar que as pessoas hoje demandem menos tutela do Estado e mais espaço para fazer escolhas. É este o trade-off contemporâneo: o recuo da fúria reguladora da escolha pública em troca de mais espaço para a liberdade dos indivíduos. É disso que trata a reforma trabalhista quando fala em fazer valer o “negociado” antes do “legislado” ou quando se pede o fim do imposto sindical. É este o cenário mais amplo das novas formas da economia do compartilhamento: a autorregulação pelos usuários ocupa gradativamente o espaço antes restrito à burocracia pública. Não faltará quem diga que tudo não passa de um processo de deslegitimação da política. Do retorno a um tipo de democracia conservadora. É possível. Quem sabe devamos voltar a Edmund Burke e lembrar que a boa democracia é precisamente aquela que sabe manter sob controle seus desatinos. Os próximos anos assistirão a uma suave transição. Uma queda de braço entre novas tecnologias e velhas instituições. Entre um leviatã grande e intrometido e o cidadão crescentemente dono de si mesmo. Não tenho muitas dúvidas sobre quem ganhará o jogo.
Entrevista Na Real: “Fernando Schuler: o maior risco é ficar tudo como está”

Em busca de melhor compreensão da atual conjuntura e os possíveis cenários pós-julgamento do TSE, o programa na Real Na TV desta semana entrevistou o cientista político Fernando Schuler, professor do Insper. Clique aqui para assistir ao programa na íntegra
O que é uma sociedade justa?

Fernando Luis Schuler, convidado do Café Filosófico, do Programa CPFL Cultura, reflete sobre o conceito de justiça política
Entrevista Um Brasil: “Sociedade busca líderes fora da política tradicional”, diz Fernando Schüler

As investigações sobre corrupção envolvendo políticos e grandes empresas estão pondo em xeque o modelo de democracia que o Brasil escolheu quando promulgou a sua última Constituição, em 1988. Com isso, nomes não associados à política tradicional têm ganhado espaço e confiança da população para liderar o País, de acordo com o cientista político e curador do projeto Fronteiras do Pensamento, Fernando Schüler. Em entrevista ao UM BRASIL, realizada em parceria com o InfoMoney, Schüler diz que o financiamento empresarial de campanha eleitoral se mostrou um mecanismo que não trouxe benefícios à sociedade. “Em um sistema como esse, com financiamento empresarial de campanha, você induz os políticos a pedirem recursos para os empresários, evidentemente estabelecendo inúmeras trocas e negociações. O resultado não poderia ser bom. Tivemos três décadas com esse modelo e, agora, estamos passando a limpo”, diz Schüler, que também é professor do Insper. De acordo com ele, não só o Brasil, mas o mundo vive uma tendência de buscar líderes que não estão associados à política tradicional, como o prefeito de São Paulo, João Doria, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e alguns dos principais candidatos que disputam a eleição presidencial na França. Em razão das denúncias de corrupção e da crise de representatividade da sociedade em relação aos políticos, a discussão sobre a reforma política ganhou destaque nos últimos anos. Segundo Schüler, apesar desses problemas, a solução para a questão do financiamento de campanhas não deve ser encontrada no “afogadilho”. “Minha sugestão, acho que me parece mais razoável, é esperar um novo Congresso, uma nova liderança para o País e jogar esse debate para a sociedade”, afirma. Schüler também diz que os partidos políticos precisam entender que a população não vive no mundo ideologizado pregado por acadêmicos e, dessa forma, o debate não deve mais se tratar sobre se as ações são de direita ou de esquerda. Para as próximas eleições, o cientista político acredita que a sociedade tende a apoiar candidatos de posicionamento mais ao centro e menos marcados pela forma tradicional de se fazer política no País. “Duvido que a sociedade vai optar por uma liderança radicalizada. Um candidato que se apresente mais ao centro terá, em tese, mais aceitação”, diz. Clique aqui para assistir a entrevista na íntegra
Entrevista O Livre: “Não existe reforma da previdência com apoio popular”

Crise econômica sem precedentes. Um governo com baixa popularidade e sérias pendências na Justiça Eleitoral. Pessoas engalfinhando-se nas redes sociais pelos mais variados motivos. Políticos e empresários do primeiro escalão a engrossar as estatísticas do sistema carcerário. Motivos não faltam para enxergar o caos no Brasil de 2017. E é justamente em cenários assim, de posições extremadas, que o papel do intelectual e do analista político se torna ainda mais necessário. É o que afirma o cientista político, professor e doutor em filosofia Fernando Schuler, novo colaborador do LIVRE. Segundo ele, em tempos de “pós-verdade”, fatores como racionalidade, bom senso e estatísticas confiáveis nunca foram tão necessários. “Uma das primeiras tarefas do analista político é separar a sensação de caos do caos verdadeiro. Nós temos a impressão, por exemplo, de que a violência está aumentando, mas os dados mostram que ela vem caindo historicamente, com oscilações”, diz. Gaúcho, ex-secretário de Justiça e Desenvolvimento Social do governo do Rio Grande do Sul, Schuler vê em sua terra natal um exemplo claro da necessidade das polêmicas reformas propostas pelo governo de Michel Temer. “Hoje há incerteza no cenário político em relação a uma reforma que é absolutamente vital, inclusive para a manutenção dos direitos sociais, para que o Brasil não vire um Rio de Janeiro, um Rio Grande do Sul”, afirma. Sobre a impopularidade das medidas, especialmente em relação à Previdência, Schuler afirma que nunca esperou um contexto diferente. “Nunca se fez reforma da previdência com amplo consenso e sem uma boa dose de conflito social”. O país entra em 2017 com um presidente impopular e sob risco de cassação em meio à discussão de reformas polêmicas e crise econômica. É possível enxergar alguma luz no horizonte? O Brasil vive uma situação paradoxal. Temos boas e más notícias. Existem dois processos andando, paralelamente. Por um lado, uma agenda econômica de reformas sendo conduzida com grande dificuldade, que é basicamente o ajuste fiscal que o governo vem fazendo, a PEC que limita o gasto público, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e a liberação das terceirizações. São reformas importantes para a modernização da economia, que vão permitir mais agilidade e dinamismo para a gestão empresarial e beneficiar as pequenas empresas. A longo prazo, isso trará maior sustentabilidade fiscal, permitindo que o governo cumpra as suas obrigações sociais e faça investimentos. Estamos assistindo a uma ampliação do modelo de parcerias público privadas, como esse recente leilão de quatro aeroportos, mostrando que o Brasil recuperou um certo padrão de credibilidade internacional. O leilão apresentou um ágio muito significativo. O aeroporto de Porto Alegre chegou a 800% de sobrevalorização. Existem notícias positivas, ou seja: o governo vem acertando na área econômica. E o que seriam as más notícias, na sua opinião? O grande teste vem agora, com a reforma da Previdência. O governo foi bem-sucedido na PEC do controle de gastos públicos, mas precisa mostrar força agora na Previdência, pois o desafio é muito maior. São necessários 308 votos. É um tema delicado e que mexe com expectativas de milhões de pessoas. Os deputados sofrem pressão nas bases e as eleições são no ano que vem. E o governo vem recuando. Primeiro, em relação aos militares. Depois, as polícias militares e os bombeiros. Agora, os servidores estaduais e municipais. A pergunta que se faz hoje é: até onde o governo vai recuar? Existem vários pontos de dúvida: vai recuar sobre a igualdade entre homens e mulheres? Vai recuar no tema da assistência social? Vai recuar na idade mínima de 65 anos e flexibilizar as regras de transição? São perguntas no ar. Hoje diria que é muito difícil aprovar a reforma. O resultado da votação da lei de terceirizações mostrou que o governo tem uma certa dificuldade. Como não era uma Emenda Constitucional, mas uma lei ordinária, o governo conseguiu 231 votos, o que é muito distante dos 308 necessários para uma PEC. Há incerteza no cenário político em relação a uma reforma que é vital para a manutenção dos direitos sociais, a longo prazo. No fundo, estamos decidindo hoje se vamos assegurar para as próximas gerações os direitos inscritos na Constituição. Já houve manifestações significativas nas ruas e, em especial, nas redes sociais, com duras críticas às reformas propostas. Como o governo está se saindo na chamada batalha da comunicação? Ninguém imaginava que fosse possível aprovar uma reforma da Previdência com amplo apoio social. As pessoas não pensam com esse nível de racionalidade. Nenhum país do mundo fez reformas desse tipo com amplo consenso e sem uma boa dose de conflito social. E aí tem um lado positivo do governo Temer: talvez fosse necessário um governo impopular para fazer as reformas. Um governo preocupado com popularidade, às vésperas da eleição, jamais faria isso. O presidente Temer não tem expectativas eleitorais. Sabe que é um presidente impopular. A missão dele é com a história. E como avalia o desempenho do presidente nesta tarefa? Temer pensa no legado. É um homem de certa idade, faz um governo de transição que nasce de um impeachment, mas pode deixar um legado ao país, ao ajustar a economia e recuperar a credibilidade externa. A taxa de risco do país vem caindo e chegou ao nível pré-crise. A Petrobras recuperou uma parte do seu prestígio internacional, as ações recuperaram boa parte do valor, e o governo vem desempenhando bem o seu papel. O ponto é que o governo não tem como ganhar a guerra da comunicação. Não pode alimentar essa expectativa, pois não há como ganhar. O que o governo pode fazer é o que os cientistas políticos chamam de controle de dano, ou seja, não deixar que a oposição conquiste as ruas. Isso o governo vem conseguindo fazer, pois as manifestações contrárias à reforma da previdência ainda são basicamente restritas à militância sindical e partidária, setores do funcionalismo público e redes sociais. Mas não ganhou um contorno popular. Não há manifestações de massa. Enquanto isso não acontece, o governo vem lidando bem com o problema. Mas, para além das
A miséria do debate sobre as privatizações

Publicado originalmente na revista Época Enquanto em São Paulo o prefeito João Dória anuncia o “maior projeto de privatização” do Brasil e ninguém faz drama, no Rio de Janeiro a venda da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) ameaça virar (mais um) fiasco. O que impressiona, no debate carioca, é o tom. A exaltação. O evidente conflito de interesses envolvido na discussão. Tudo isso, alguém poderia dizer, é previsível em um debate envolvendo a privatização de uma empresa pública. Não acho. Uma boa democracia precisa saber separar a lógica dos grupos de pressão do interesse difuso dos cidadãos. A conversa fiada ideológica da argumentação racional. Leio um artigo do deputado Marcelo Freixo dizendo que a Cedae “vale entre R$ 10 a 14 bilhões” e que os membros do governo estadual dizem valer R$ 4 bilhões. Na contabilidade do deputado, a Companhia, com seu bilionário passivo trabalhista, situa-se entre as 40 ou 50 empresas mais valiosas do País. O dado mais curioso, porém, é uma empresa possuir um valor “teórico” distinto do que alguém esteja efetivamente disposto a pagar por ela em uma concorrência pública. Alguém poderia explicar ao deputado Freixo que preços se definem no mercado. É por isso que se fazem leilões para vender uma empresa estatal, e o melhor a fazer é exigir o máximo de transparência nestes processos. O argumento mais esquisito que li veio inspirado pelo Papa Francisco. O sujeito citava a encíclica Lautato Si e chegava à surpreendente tese segundo a qual, sendo o acesso à agua um “direito humano essencial, fundamental e universal”, a Cedae não pode ser privatizada. Inútil lembrar que, por este argumento, também o acesso à comida não poderia ser “submetido às leis do mercado”. Mais esquisita ainda é a ideia ainda presente em nosso debate público, segundo a qual o que é “essencial” deve ser “público”, e o que é público deve ser “estatal”. Para além da retórica ideológica, há boas razões para se ter cuidado com o tema da privatização de serviços de agua e saneamento. Os críticos do modelo partem do fato de que sistemas de agua e saneamento são monopólios naturais e, nesta condição, exigem muito investimento, não permitem concorrência e carregam um amplo leque de obrigações sociais e ambientais. Logo, deveriam ser administrados pelo governo. Empresas privadas tenderão a encontrar brechas na legislação para investir menos em áreas mais pobres, desconsiderar efeitos negativos de sua atividade sobre o meio ambiente e, pior, tenderão a usar seu poder econômico para “capturar” seus reguladores, estejam eles no governo ou em agências independentes. Tudo isto é possível. Não passa de retórica vazia imaginar que a simples troca de gestão do governo para o setor privado irá melhorar um serviço de natureza monopolística. Os resultados irão variar imensamente segundo as regras do jogo, a qualidade dos contratos e do controle público. É sobre estes pontos que deveria estar concentrado o debate sobre a privatização da Cedae, no Rio de Janeiro. A experiência global no tema diz o seguinte: serviços privados de água e saneamento podem funcionar bem e atender aos mais pobres. Há mais de duas mil empresas privadas neste setor, operando nos Estados Unidos, atendendo a mais de 70 milhões de pessoas. O Chile tem sido um bom modelo de gestão privada de abastecimento, mantido pelos governos socialistas. A cidade de Indianápolis recentemente privatizou seu serviço de águas para um organização privada sem fins lucrativos. Há exemplos distintos. Cidades como Atlanta e Buenos Aires voltaram atrás e retomaram a gestão estatal de seus sistemas de abastecimento. Um estudo interessante, e com certeza útil para o debate brasileiro, foi realizado pelo economista argentino Sebastian Galiani, hoje Professor na Universidade de Maryland. Galiani mediu o impacto da privatização dos serviços de água sobre a mortalidade infantil, na Argentina. Crianças são mais vulneráveis a doenças transmitidas por água contaminada e falta de condições básicas de saneamento. Pois bem: na Argentina dos anos 90, 30% dos municípios privatizaram seus sistemas de agua. Um ótimo contexto para comparar os modelos. Os números mostraram o seguinte: na primeira metade da década, não houve diferença nos resultados entre a gestão estatal e privada. Na segunda metade, no entanto, a partir da consolidação do novo modelo, a redução da taxa de mortalidade nos municípios que fizeram a privatização foi 8% maior do que as que mantiveram o modelo estatal. Nas comunidades mais pobres, a diferença foi a 26%. O grande diferencial foi a expansão do investimento. Áreas mais pobres, antes sem cobertura, foram integradas às rede de abastecimento. Questões comuns, neste debate, parecem ser as seguintes: taxas tendem a subir logo após processos de privatização? A resposta é sim, em geral devido a longos períodos de ausência de investimento e “gestão política” de preços. Manter tarifas artificialmente baixas para todos significa apenas que os contribuintes como um todo estão subsidiando o consumo de quem eventualmente pode pagar. Estimulando, por vezes, o consumo irresponsável. Outra questão: o governo, em um sistema privatizado, pode subsidiar a oferta de agua para os mais pobres? Sim, com a vantagem de saber exatamente quem está sendo subsidiado e a que custo. E sem comprometer a eficiência da gestão. A comparação internacional, neste tema, é útil para evitar erros e fazer as perguntas certas, mas não responde a questão central: é melhor um sistema estatal ou privado? Por certo, sociedades com tradição de meritocracia, transparência e profissionalismo no setor público, e governos com capacidade de investimento tendem a tornar mais plausível a alternativa estatal. Pergunta rápida: é este o caso brasileiro? É este particularmente o caso do Estado do Rio de Janeiro? O ex-Governador de Nova York, Mário Cuomo, costumava dizer que “garantir a prestação de um serviço não implica sua execução pelo governo”. A frase é simples. Ela convida a pararmos, de uma vez por todas, de confundir o “público” com o “estatal” no debate brasileiro. Nos convida a um certo realismo. Precisamente o que parece estar faltando no debate hoje em curso no Rio de Janeiro.
A lógica infernal da burocracia no Brasil

Artigo originalmente publicado na revista Época Por que não conseguimos reduzir a burocracia no Brasil? Tenho um amigo que resolveu abrir uma MEI e virar “micro empreendedor individual”. O cara foi lá, abriu a empresa e começou a trabalhar. Prestou alguns serviços até que um cliente disse que só lhe pagaria se ele abrisse uma conta pessoa jurídica. O sujeito foi no banco abrir a conta e lhe pediram a carteira de identidade. Ele havia perdido a carteira mas tinha o passaporte e a carteira de trabalho. Não deu. Foi no Poupatempo fazer a identidade e lhe pediram a certidão de nascimento. Mostrou passaporte e outros papéis mas não adiantou. Precisava da certidão. Ele era novo em São Paulo e pediu para um parente revirar as coisas do apartamento, em Curitiba. O cara achou e mandou pelo correio. De volta ao Poupatempo lhe pediram dez dias para entregar a carteira. Depois voltou no banco, entregou a papelada, desta vez com a carteirinha, e lhe prometeram que em até dez dias terá uma resposta da análise dos documentos. O dinheiro ainda não recebeu, mas, como bom brasileiro, não desiste nunca. A burocracia no Brasil é sempre perfeitamente lógica. Não é lógico mostrar a identidade pra abrir a conta no banco? Além disso, cá entre nós, custa alguma coisa mostrar a certidão para fazer a nova carteirinha? Custava alguma coisa o sujeito andar com o documento em uma pasta, organizado, ao invés de deixar em uma gaveta no apartamento antigo? Qual é exatamente o problema? Diria que é exatamente este: cada exigência burocrática tem sua lógica e poderia ser, com alguma dose de organização, atendida por qualquer pessoa ou empresa. É exatamente este o caso das regras que compõem o cipoal do pagamento de impostos, no Brasil. Cada uma tem sua explicação. Meu contador, aliás, é mestre em me explicar, sempre que eu fico nervoso, a perfeita razão de cada uma. No conjunto, é por causa delas que estamos em 181º entre 190 países no ranking do Banco Mundial que mede a facilidade para pagar impostos. Por isso nossas empresas gastam 2.038 horas todos os anos para lidar com tributos, contra 163 horas na média dos países da OCDE. Também é por isso que estamos em último lugar no ranking de encargos trabalhistas elaborado entre 29 grandes economias pela Rede Internacional de Contabilidade e Consultoria UHY, com sede em Londres. Não faz sentido limitar os contratos temporários a noventa dias? Não é lógico pagar 40% de multa sobre o fundo de garantia do funcionário demitido? Não é lógico, aliás, que o dinheiro do fundo seja gerido por um conselho de vinte e quatro pessoas, junto à Caixa Econômica? O pessoal não iria torrar tudo, se cada maluco pudesse decidir por conta própria o que fazer com o seu dinheiro? É tudo perfeitamente lógico, não é mesmo? Semana passada, o Ministro Henrique Meirelles, prometeu reduzir a burocracia para pagar impostos. A promessa já havia sido feita no ano passado, mas não é esse o ponto. Meirelles tem crédito, entre outras coisas por que foi o arquiteto da PEC do limite do gasto público. Ele diz que há um time de técnicos do Ministério trabalhando para descobrir que regras, exatamente, é possível “desregrar”. Me lembrou o novo vereador paulista, Fernando Holiday, e sua ideia de fazer um “revogaço” na cidade de São Paulo. Ao invés de criar novas regras, descriar. Achei a ideia muito boa. Oxalá ela inspire vereadores, deputados e grupos de cidadãos, Brasil afora. Apenas acho que nosso problema é muito mais amplo do que suprimir essa ou aquela regra tributária ou trabalhista. Vamos lá: por que precisamos de um título de eleitor? Por que cargas d’agua precisamos (eu mesmo, desatento, descobri isso tempos atrás) renovar a carteira de motorista a cada cinco anos? Pra que o pobre coitado que acabou de ficar desempregado tem que gramar na fila de uma agência do Sine para tirar o seguro desemprego? Revirar essas coisas é mexer com o Brasil barroco que nos tornamos. Não são apenas as duas mil horas que as empresas gastam para lidar com seus impostos. É o tempo incontável que perdemos todos os dias para carimbar o óbvio em cartórios e pagar multas de R$ 3,51 porque não fomos votar nos dois turnos das últimas eleições. País barroco e imensamente difícil de mudar. Por uma razão: em que pese concordamos que toda essa burocracia, no conjunto, passou do ponto, garanto que a opinião será outra quando passamos a analisar regra por regra, documento por documento, multa por multa. A cada regra corresponderá uma certa “racionalidade” e um grupo disposto a defendê-la. E mais: a supressão de cada regra não fará grande diferença na vida de ninguém, mesmo que a soma de todas as regras possa piorar muito a vida de todo mundo. Por essa razão prosaica, o desejo abstrato de fazer a grande mudança pode ser forte, mas é fraco o incentivo concreto para fazer cada reforma. É exatamente o mesmo problema enfrentado pelos projetos de redução do tamanho do Estado. A extinção de qualquer órgão público não resolverá o problema fiscal, ainda que uma redução coordenada de muitas repartições, autarquias, fundações, empresas e fontes de gastos não prioritários poderá oferecer uma resposta. Arrisco dizer que nos tornamos um país campeão em burocracia essencialmente porque o individuo, o “sem corporação”, é sub representado em nosso mundo político. Ninguém para pra perguntar, numa tarde quente de Brasília, ao se discutir uma nova regra, se ela é estritamente necessária e quantas horas da vida de um cidadão ela vai custar. É no silêncio dessas tardes quentes que perdemos a mão. Há um problema ético aí. Um punhado de gente por vezes bem intencionada toma decisões e todos pagam a conta. De bico calado. Encaramos o cartório, carregamos nossos documentos, nos adaptamos. Formamos filas, nos domingos de votação, pra “justificar a ausência”, pagamos as multas e corremos atrás da papelada. E de vez em quando damos um jeitinho. Não queremos saber
O que é mais importante: eliminar a pobreza ou combater os mais ricos?
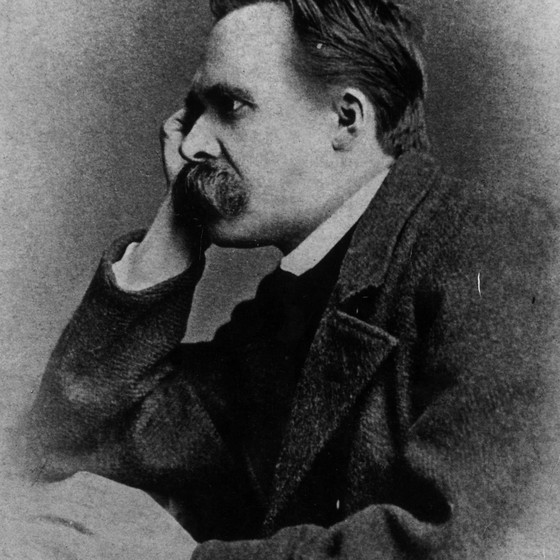
Publicado originalmente na revista Época Alguém aí está preocupado com o tamanho da conta bancaria de Jeff Bezos? Bezos é o criador e principal acionista da Amazon. De vez em quando eu adquiro um livro por lá. Leio um trecho grande que eles disponibilizam no site e, se achar bacana, vou lá e compro. Não dou a mínima para a posição de Bezos no ranking de bilionários globais. Suspeito que ele também não. Eu leio meu livro e ele ganha alguma coisa com isso. Estamos quites. O mesmo vale para um espanhol discreto chamado Amâncio Ortega. Filho de um ferroviário de Valladolid, Amâncio começou trabalhando como office-boy em La Coruña, aos quatorze anos. Nos anos setenta criou a Zara e fez uma pequena revolução no varejo, não isenta de altos e baixos. De vez em quando compro uma camisa por lá. Sorte de quem comprou ações da Zara, tempos atrás. A valorização foi de 580% entre 2008 e 2016. Para uns, a Zara trabalhou bem e muita gente investiu na empresa para ganhar algum dinheiro. Para outros, o capitalismo “concentrou” riqueza. Ortega e Bezos fazem parte da lista de oito bilionários que a ONG global Oxfam, em relatório recente, afirma possuírem uma riqueza equivalente à metade mais pobre dos seres humanos. Segundo a Oxfam, se trata de uma aberração. Talvez seja mesmo. Talvez o mundo fosse melhor sem essa turma de bilionários abrindo lojas reais e virtuais, vendendo livros, roupas e oferecendo ações no mercado. Talvez não. Vai que o problema esteja do outro lado da pirâmide. Na falta. É o que vamos discutir rapidamente a seguir. O relatório sustenta que o rendimento dos mais ricos, mundo afora, não é proporcional ao valor efetivamente adicionado à atividade econômica. Inútil perguntar como os técnicos da Oxfam fizeram esta conta. Não há, por óbvio, cálculo nenhum. Apenas uma colagem de notícias dispersas e narradas de um certa maneira. Elas vão desde a existência de paraísos fiscais, passando pela esperteza dos contadores que fazem planejamento tributário, privatizações russas, subsídios e isenções fiscais, políticas de austeridade, pela destruição de terras indígenas no Brasil até o lobby da indústria farmacêutica contra a Tailândia e a crise na indústria têxtil de Bangladesh. A colagem produz uma narrativa trágica do mundo atual. Um “sistema” ordenado para beneficiar o 1% mais rico e liderado por gente que sabe o que faz. A colagem também funciona para a estatística. O relatório diz que a riqueza dos 62 seres humanos mais ricos cresceu 45% entre 2010 e 2015, enquanto a metade mais pobre perdeu 38%. O mesmo gráfico, porém, mostra que, nos dez anos anteriores, a riqueza da metade mais pobre cresceu 3,5 vezes mais do que a conta bancaria dos 62 felizardos. O que isto significa? O capitalismo era bacana até o natal de 2010 e se tornou “obsceno a partir de 2011? Perfeita falácia estatística. Padrões de renda e crescimento econômico apresentam enormes variações de curto prazo, mas é possível perceber uma tendência ao longo do tempo. O relatório da Oxfam traz à tona mais uma vez uma das perguntas fundamentais da nossa época: devemos, como sociedade, priorizar a eliminação da pobreza ou o combate aos mais ricos? Alguém sempre poderá dizer que as duas respostas estão erradas. Que a prioridade deve ser bem mais modesta: preservar a liberdade, a igualdade diante da lei e não ficar imaginando coisas. É possível. Mas por ora deixo de lado essa alternativa e concedo que tenhamos que decidir sobre um conceito de “justiça social”. E há duas opções: a guerra aos ricos ou a guerra à pobreza. Os que optam pela guerra aos mais ricos não chegam a dizer, em regra, que os 50% da base da pirâmide está mais pobre porque um punhado de bilionários está enriquece demais. Mas essa é a sua mensagem. Trata-se de um exercício de correlação com uma vaga causalidade. Também não se explica em que consistiria uma “desigualdade razoável”. Vamos imaginar que a riqueza da metade mais pobre correspondesse à fortuna dos 800 mais ricos, ao invés de oito. Faria alguma diferença? Quem acha que a desigualdade é importante deveria definir essas coisas, dizer qual é, afinal de contas, a linha vermelha de assimetria de renda que não devemos cruzar. Ou quem sabe bastem apenas as impressões e intuições de quem escreve um relatório? Não sei. Fui em frente. Meu ponto: concentrar o foco de uma visão sobre a justiça social no combate à desigualdade ou aos mais ricos é simplesmente um erro. Entre 1990 e 2010 (o próprio relatório da Oxfam reconhece isto), a proporção de pessoas vivendo na extrema pobreza caiu de 36% para 16%. Houve um incremento da igualdade entre os países, ainda que um aumento da desigualdade de renda em países avançados como os Estados Unidos, França e Inglaterra, assim como na China e na Índia. A revolução tecnológica produziu ganhos assimétricos. Os muito ricos ganharam, mas ganhou também uma enorme e multiforme camada de trabalhadores pobres do mundo em desenvolvimento. É o caso da ascensão da chamada “classe C”, no Brasil. Nada muito diferente do que ocorreu na maioria dos países latino-americanos. A própria ONU identificou o equívoco da “narrativa da desigualdade”. Eliminar a pobreza extrema do planeta até 2030 é a primeira de suas “metas para o desenvolvimento sustentável”, lançadas em 2015. A ONU acertou o foco. Ninguém daria a mínima para a desigualdade se não fosse a existência da pobreza. Este é o ponto enfatizado pelo filósofo Harry Frankfurt, professor em Princeton e autor de On Inequality. Não há um problema ético na distância que separa a renda da classe média bem estabelecida e dos mais ricos. Se todos tivessem o suficiente, ninguém daria atenção ao valor das ações de Amâncio Ortega no pregão de segunda-feira. O ponto é que errar o foco em um tema delicado como este acaba por produzir imensos equívocos na formulação de políticas públicas. No Brasil a carga tributária alcançou 32,7% do PIB em 2015. Será mesmo que nosso problema é aumentar

