A ponte do rio das Antas

A ponte ruiu em setembro do ano passado. Foi aquela enxurrada, no Rio das Antas, e a velha ponte de ferro que ligava Nova Roma do Sul ao mundo se foi. Os governos estadual e federal colocaram a nova ponte no orçamento e a solução era esperar que as coisas acontecessem. Só que não. “Quanto é que sai uma nova ponte? Por que a gente mesmo não faz?”, foi a pergunta que surgiu. A partir daí, mobilização que é clássica na colônia italiana, como na colônia alemã, que conheci tão bem, no sul do Brasil. A rifa, o galeto, a contribuição das empresas. No fim das contas, fizeram a ponte. Era para ser feita em 140 dias. Levou 138. Custo de 6 milhões, ponte simples que resolve o problema da comunidade. “Ainda sobrou um milhão”, diz o presidente da Associação que comandou o processo. “A comunidade agora vai se reunir”, diz ele, “para ver o que fazer com o dinheiro”. Quando li sobre isto me lembrei de Tocqueville. De sua seus relatos sobre o que chamou de “autogoverno em pequena escala”, em sua viagem aos Estados Unidos, no início dos anos de 1830. “Os americanos”, diz ele, “associam-se para tudo, e aprendem isso desde crianças”. Associam-se para “fundar escolas, igrejas, difundir livros, construir prisões e hospitais”. Não apenas como uma forma resolver problemas, mas como um modo ativo de exercício da democracia. Ao invés de esperar pelo governo para abrir uma rua ou um centro comunitário, aqueles colonos faziam como fizeram os colonos de Nova Roma. Não um movimento contra o governo, como não foi agora, no Rio Grande, mas um exercício de confiança. Tocqueville provocou contando como milhares de americanos haviam se organizado para combater o alcoolismo. “Fosse na França”, disse, “teriam ido exigir que o governo vigiasse as tabernas”. Esperar pelo Estado seria uma espécie de “mania francesa”. No Brasil, somos ambivalentes. No geral, parecemos um caso agudo de mania francesa. Mas há coisas novas acontecendo no País. E vale à pena prestar atenção. A colônia italiana e alemã tem uma longa tradição de associativismo e cooperativismo. É um traço de “identidade”, como anda na moda dizer hoje em dia. O que surpreendeu, neste episódio, foi a escala. Uma coisa é criar uma orquestra, ou um museu de arte. Já vi tudo isso muito de perto. Mas uma ponte? Nova Roma tem coisa de quatro mil habitantes. É evidente que há uma enorme capacidade de cooperação ali. “Capital social”, se quisermos uma palavra elegante. Rutger Bregman escreveu um livro instigante, “Humanidade: uma história otimista do homem”, argumentando que foi exatamente a capacidade de cooperar, de sintonizar as pessoas em torno de fins comuns, que definiu muito do sucesso evolutivo do bicho homem. Nosso “lado abelha”, na expressão de Jonathan Haidt. O exato ponto de encontro entre o altruísmo e o auto interesse esclarecido de cada um. Da velha senhora, que manda um pix com um pedacinho de sua poupança para pagar uma ponte que em tese caberia ao governo fazer. Que depois desfila em um velho Aero Willis, festa de inauguração. E disso tudo extrai uma secreta felicidade. Muita gente aproveitou o episódio para criticar o governo. O Governador Eduardo Leite explicou que o Estado tem um projeto de ponte mais sofisticado, e por isso mais caro. E que por óbvio leva mais tempo para fazer. Ele tem razão. O problema não deste ou daquele governo, mas da estrutura da máquina pública, no Brasil. Vivemos um tipo de paradoxo. Nosso Estado é eficiente para executar um programa de distribuição de renda como o Bolsa Família, ou programa de bolsas em larga escala, como o ProUni. Mas é claramente ineficiente quando a máquina do Estado entra em cena para prestar serviços ou executar alguma coisa. No ranking da The Global Economy, ocupamos o constrangedor 130º lugar, em eficácia governamental. O Uruguai está na 41ª posição. Não é por outra razão que quem tem maior renda, no Brasil, há muito aprendeu a contratar escola e plano de saúde no setor privado. E a depender o mínimo possível dos serviços do governo. A notícia interessante é que o País foi desenvolvendo um contraveneno ao Estado burocrático. Em 1995 fizemos a Lei das Concessões. Foi o que permitiu um parque como o das Cataratas do Iguaçu, patrimônio natural da humanidade, ser gerenciado pelo setor privado, com eficiência, e ainda gerar dinheiro para o governo. O modelo custou para engrenar, mas hoje ninguém pensa seriamente que o governo deve administrar um parque como o Ibirapuera, em São Paulo, ou nossos aeroportos. No final dos anos 90 criamos as Organizações Sociais, na reforma do Estado conduzida por Bresser Pereira, permitindo que associações e fundações privadas gerenciem hospitais, orquestras ou centros de pesquisa em parceria com o governo. E é assim que temos uma OSESP, por exemplo, e quase todos os melhores hospitais públicos do País. Por fim, em 2004, fizemos a lei das PPPs, que permitiu reduzir 20 para perto de 11 meses o tempo de construção das escolas infantis, em Belo Horizonte, fazer a gestão de uma instituição de ponta como o Hospital do Subúrbio, em Salvador. Vai aí a grande tendência da administração pública atual: governo focado nas funções estratégicas; setor privado fazendo a execução e a gestão, na ponta. Seja uma empresa ultra especializada, seja uma associação comunitária, no interior do Rio Grande do Sul. É possível pensar isto como um pêndulo. Fizemos uma Constituição estatizante, nos anos 80, mas gradativamente fomos movendo o pêndulo na direção da sociedade. Ainda estamos longe de ser uma “terra de doadores”, como Tocqueville descreveu a América do início do século XIX. Na última edição do World Giving Index, uma das maiores pesquisas globais sobre doações e filantropia, ocupamos a 89ª posição, entre 142 Países. Andamos pelo meio do caminho. Durante a pandemia, nosso senso de comunidade cresceu. Acompanhei de perto a doação de mais de R$ 170 milhões para a Fábrica de Vacinas, do Instituto Butantan. A questão é como transformar isto em
A traição dos intelectuais?

A imagem é chocante. Aquele vídeo da mulher fanática invadindo uma pequena loja, em Arraial D’Ajuda, e agredindo a lojista judia. O que surpreendeu foi o dia seguinte. “Não sou antissemita”, diz a agressora, dia seguinte. Seria o que, exatamente? Vai aí a imagem trágica de uma doença do nosso tempo. A doença que leva militantes a achar boa a ideia de boicotar empresas judias. O gosto amargo daquelas manifestações de dezenas de grupos acadêmicos de Harvard, acusando Israel como “inteiramente responsável” pelo barbarismo contra seu próprio território. Ou quem sabe a constatação irônica do jornalista David Herman, de vivemos um tempo em que “você pode pedir genocídio contra os judeus, mas está frito se discutir a questão dos direitos trans”. Não me surpreendo. São as hierarquias da cultura. Sempre convivemos com a ideia da “barbárie tolerável”, e não haveria de ser diferente, agora. Quando o grupo palestino “Setembro Negro” fez aquele atentado nas Olimpiadas de Munique, em 1972, sequestrando e matando 11 atletas israelenses, algo parecido aconteceu. Jean Paul Sartre escreveu um texto dizendo que havia uma “guerra” entre Israel e os palestinos, e que “a única arma dos palestinos é o terrorismo”. “Uma arma terrível”, reconheceu, mas “a única que os pobres oprimidos”, poderiam usar para “mostrar sua coragem e seu ódio”. Ninguém, que eu saiba, fez uma defesa assim tão explicita do terrorismo, por agora, como Sartre. Mas andamos muito perto disso. Foi este o tema de um artigo duro escrito pelo historiador Niall Ferguson. O artigo faz uma referência a um livro clássico de Julien Benda, no entre guerras, “A Traição dos Intelectuais”, sugerindo uma não tão sutil semelhança entre a atual inclinação política de boa parte da academia americana, e sua relativização do terrorismo, com a capitulação do mundo universitário alemão ao nazismo, nos anos 30. “Apenas se nossas grandes universidades conseguirem restabelecer a separação entre a ciência e a política”, diz ele, “terão a certeza de evitar o destino de Marburg e Königsberg”. Ferguson exagera. É falta de senso de proporção comparar o que se passa no mundo woke atual com a Alemanha nazista. Ferguson acerta quando faz uma referência a Weber. Mais especificamente, ao discurso sobre “A Ciência como Vocação”, dado em Munich, no final da Primeira Grande Guerra. Seu argumento era de que ciência e política são terrenos essencialmente distintos. A ciência deseja a verdade. É sua paixão. Diante de novas evidências, o cientista precisa estar disposto a “trair” sua hipótese, ou sua tese por inteiro, desde que isto o faça chegar mais perto da verdade. A política inverte a equação: seu problema é como fazer a realidade convergir em uma certa direção. Seu foco é a “missão”, não a verdade. Por isso estas coisas jamais deveriam se misturar. Ferguson sugere que tudo piorou na última década, com seus cancelamentos, sua paranoia em torno das “microagressões”, o reino dos ativistas nas universidades e as hordas de valentões de sofá, nas redes sociais. Seu erro é imaginar que os intelectuais tenham “traído” um pacote de valores associados à liberdade individual, ao qual nunca juraram fidelidade. Por vezes esquecemos que a grande tradição liberal que vem de Montaigne, Locke, Madison, Voltaire ou John Stuart Mill, expressa apenas um pedaço da formação moderna. É sua a base de valores que Ferguson sugere ter sido traída, nestes tempos difíceis, por boa parte do nosso progressismo intelectual. Seu exemplo talvez mais eloquente seria aquela frase da reitora de Harvard, Claudine Gay, no Congresso americano, dizendo que dependeria do “contexto” punir uma defesa do genocídio de judeus, na Universidade. A traição é o duplo padrão. O fato óbvio que ela não flexibilizaria em relação a outros grupos humanos, sejam mulheres, negros, indígenas, pessoas trans, um tipo de violência que ela friamente relativizou em relação aos judeus. Não acho que seja um bom caminho julgar uma frase, de modo isolado, em um debate difícil. O que de fato incomoda é uma mistura do duplo padrão, no julgamento, com uma difusa relativização do terrorismo, que tantas vezes assistimos. Thomas Sowell capturou bem o problema, em sua “Sociologia dos Intelectuais”, sugerindo que ao menos uma parte desse problema se deve ao tipo de relação que os intelectuais estabelecem com a verdade. A lógica é próxima a de Weber. Se um engenheiro erra no cálculo de uma viga de concreto, o edifício desmorona, e ele será processado. Vale o mesmo para um médico cirurgião. Nada disso se passa com os intelectuais, chamados a falar sobre infinitos assuntos, sobre os quais entendem muito pouco (a economia é o caso mais óbvio), ou sobre os quais costumam ter ideias preconcebidas. E tudo bem. Foi assim que Sartre pode atestar “a mais completa liberdade de pensamento”, na União Soviética, e o Hamas pode surgir como um legítimo grupo de resistência contra uma potência opressora. E igualmente, tudo bem. O erro de Sowell talvez seja o de confundir a atividade intelectual com um tipo “sabedoria” para julgar com base em critérios e bom-senso. E em especial reconhecer, à moda socrática, aquilo não se sabe. E que, portanto, não se deve julgar. O problema é de fundo ético. Quando Albert Camus lançou seu O Homem Revoltado, em 1951, irrigou Sartre e boa parte da intelligentsia francesa ao sugerir que a “revolta” deveria se dirigir contra toda forma de opressão, independente de onde viesse. Camus foi chamado de “idealista”. Adepto de uma “moral de cruz vermelha”. O próprio Sartre entrou em campo, dizendo que vivíamos em um “mundo dividido”, e que era preciso escolher entre a adesão ao sovietismo ou a “fuga”. A indiferença diante da “opressão”. Era precisamente a armadilha fácil na qual Camus se recusa a cair. Em seu caderno de notas, ele reconhece sua solidão. Em uma carta à esposa, Francine, ele diz estar “pagando caro por aquele livro”, sobre o qual reconhece suas dúvidas. “Tenho dúvidas sobre mim mesmo”, escreve. Tivesse apenas certezas, é provável que estivesse ao lado de Sartre, marchando em algum pelotão intelectual. Camus havia sido um dos poucos intelectuais
A análise da democracia supõe evidências, não opiniões

Em 2006, o escritor norte-americano e antigo estrategista republicano, Kevin Phillips, lançou um alerta sobre o estado da democracia americana, em seu livro American Theocracy, que rapidamente tornou-se um best-seller. Phillips alertava para o declínio do sistema político americano, marcado pela renúncia a valores universalistas, o poder do dinheiro e, em particular, pela ameaça representada pelo obscurantismo religioso no mundo da política. Fenômenos que “deformaram o Partido Republicano e sua coalizão eleitoral, silenciaram vozes democratas e se tornaram uma ameaça crescente ao futuro dos EUA”, dizia o professor, acrescentando: “nenhum poder mundial tornou-se prisioneiro do tipo de infalibilidade bíblica que descarta o conhecimento e a ciência. O último paralelo foi no início do século XVII, quando o papado enquadrou Galileu por dizer que o Sol era o centro do sistema solar”. O tom pessimista e certa propensão ao exagero estão longe de ser uma novidade, na análise política, e eram relativamente comuns na interpretação da democracia americana, década e meia atrás. Estávamos em meio à administração de Georges W. Bush, vivía-se o período pós-11 de setembro, a guerra contra o terror, bem como os conflitos subjacentes à controversa invasão do Iraque. Os temores de Phillips, ao final, se tornaram um tanto sem sentido. Dois anos após o lançamento de seu livro, os Estados Unidos elegeriam um presidente negro, campeão dos direitos civis, que encerraria a guerra do Iraque, poria fim à guerra contra o terror, apostaria no multilateralismo e recolocaria os Estados Unidos como país líder da democracia, em escala global. Oito anos depois, a bússola da política norte-americana faria novamente seu giro. Em uma campanha surpreendente, que fez quebrar o recorde histórico de participação popular nas primárias republicanas, um candidato anti-establishment, midiático, avesso ao politicamente correto, com retórica de traço populista, venceria as eleições presidenciais, em 2016. A eleição de Trump se transforma em um ponto de inflexão nas visões sobre a democracia contemporânea. Análises prudentes sobre os impasses do sistema democrático, particularmente após à crise econômica de 2008, rapidamente alcançariam um tom dramático. David Runciman abre seu elegante How Democracy Ends dizendo que “qualquer processo que leva a um resultado ridículo como este deve ter falhado gravemente ao longo do caminho”; Yascha Mounk chama a eleição de a “mais chocante manifestação da crise da democracia”; Steven Levitsky e Daniel Ziblat elencam quatro critérios para definir se uma democracia está em risco. Nenhum candidato majoritário, no último século teria preenchido nenhum deles (exceção feita a Nixon). Trump corresponderia a todos: não teria compromissos com a regra democrática; toleraria violência e ameaçaria direitos civis e a mídia e negaria a legitimidade dos oponentes. Chama a atenção o último critério. É precisamente o que Levitsky e Ziblat parecem fazer, com alguma sofisticação, em relação a Trump. Ele surge fundamentalmente como um personagem bizarro, espécie de erro de percurso a ameaçar a democracia americana. É residual o fato de que tenha conquistado legitimamente a candidatura republicana e vencido uma eleição sob as regras do jogo. Um tipo banal de argumento circular parece orientar o raciocínio: Trump é um tipo autoritário; tipos autoritários são um problema para a democracia, logo Trump é um problema para a democracia. Perde-se a distância, o saudável compromisso das ciências sociais com o entendimento do outro e algum ceticismo em relação às próprias ideias. Há um certo público a ser atingido, e este público não parece estar muito preocupado com prudência e autocensura, em uma sociedade polarizada, da qual nem mesmo a academia parece escapar. É interessante observar a dificuldade de parte relevante do mainstream acadêmico com uma abordagem pluralista da democracia. Inclinações políticas bastante evidentes se apresentam como ponto de vista universal a partir do qual a democracia é julgada[1]. Meu argumento é que isto é simplesmente um erro. Como observou o então presidente Barack Obama, em seu discurso no dia seguinte à vitória de Donald Trump, a história da democracia é um processo aberto, em forma de zigue-zague, feito de idas e vindas, no qual ninguém detém a última palavra. Espaço de vitórias e derrotas cotidianas no qual todos, a longo prazo, tendem a ganhar. Obama se dirigia ao país, mas em especial ao público democrata, por óbvio frustrado com o resultado eleitoral. Sua preocupação, ao argumento, é evitar o juízo de valor. A democracia é feita de idas e vindas, mas ninguém tem a chave capaz de relevar a verdade da política ou da própria democracia. Ele recusa a compreensão da política a partir da lógica amigo-inimigo e portanto recusa a adjetivação fácil e a afirmação de si mesmo como julgador universal. Obama é um democrata, e faria bem à academia refletir sobre seu modo de argumentar. A abordagem pluralista da democracia supõe considerar os atores que atuam na cena pública como igualmente legítimos, desde que obedeçam as regras do jogo livremente instituídas pelo próprio processo democrático. Ela se mantém, com o máximo rigor que for possível, a distância segura do juízo de valor. Recusa-se a atribuir um valor distinto aos atores, na cena pública, assim como a suas posições em políticas públicas. O que é ou não razoável passa a ser definido no interior do próprio processo democrático. A obediência à Constituição, sujeita à supervisão última da Suprema Corte, e a obediência aos ritos democráticos. Ninguem fala, em última instância, de algum lugar abstrato da virtude cívica, externo ao próprio jogo político, quando se põe a julgar a correção ou a qualidade democrática desta ou daquela proposição. Indicadores de qualidade da democracia, se almejam algum tipo de validação universal, deveriam ser rigorosos nisso. Não parece, infelizmente, ser o caso de alguns dos mais pretigiados estudos, neste âmbito. Em tese, não há problema que uma pesquisa acadêmica apresente uma inclinação política. O problema surge quando ela não se o faz de modo explícito, apresentando-se com pretensões universalistas. Assumir um certo tipo de inclinação política (procedimento relativamente comum no jornalismo e no mundo dos think tanks), é uma forma de agir com honestidade intelectual, e evitar que se induza a erro aqueles que, desavisadamente, irão utilizar os indicadores como referências de
A era da irrelevância

Um dos subprodutos mais curiosos da democracia digital é o gosto generalizado pela tagarelice e pelos assuntos irrelevantes, que parece ter tomado conta, como uma erva daninha, do debate público. Assuntos irrelevantes são essas coisas que geram bate-boca e algum calor, em regra na internet, por 24 ou 36 horas, e depois simplesmente desaparecem, sem deixar rastro. Foi o caso do debate sobre a cor da roupinha das crianças, a partir de um vídeo da ministra-pastora dos Direitos Humanos. Li muita gente argumentando, em tom aparentemente sério, que aquilo tudo era bastante grave, escondia um atroz preconceito e fatalmente levaria a mais violência contra populações trans e LGBT. Durante a campanha, lembro do debate próximo à histeria sobre uma suposta proliferação de grupos nazifascistas que andariam pela ruas do país atacando mulheres e homossexuais. Gente muito boa sugeriu que havíamos voltado aos anos 30, na Alemanha, com base no episódio da moça que teria sido marcada com uma suástica no Sul do Brasil. Depois se descobriu que era tudo falso, mas ninguém pareceu preocupado ou se desculpou. Partimos alegremente para a próxima besteira. Na transição, por um ou dois dias, discutimos o hábito do novo presidente cumprimentar todo mundo fazendo continência . Primeiro foi com um assessor americano, depois foi a um jogador do Palmeiras. Depois disso o assunto perdeu a graça. Antes da posse, discutimos intensamente se o presidente iria desfilar em carro aberto ou fechado, entre a Catedral e o Congresso Nacional. Depois discutimos o que fazia o primeiro-filho sentado na traseira do Rolls-Royce, e logo depois (com direito à manchete no The Washington Post) o significado da “saudação militar” feita pela primeira-dama, Michelle Bolsonaro (que no fim era apenas um movimento com a mão, no discurso em Libras). Na última semana, dedicamos intensos dois ou três dias fazendo graça com a viagem dos novatos deputados do PSL à China e seu bate-boca com Olavo de Carvalho. E ainda ontem, muita gente graduada discutia, com ares de grande coisa, a gravíssima atitude do presidente almoçar em um bandejão de supermercado, no centro de Davos, e o fato de ele ter usado um teleprompter em seu pronunciamento. A lista é saborosa e poderia ir longe. Irrelevâncias e não acontecimentos se tornaram uma espécie de pão nosso de cada dia, no debate atual. É evidente que não há como definir bem estas coisas. A aprovação de um rombo na Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Congresso, é mais ou menos importante do que o último desmentido presidencial? O que vale mais, discutir a independência do Banco Central ou a troca de farpas da ministra da Agricultura com Gisele Bündchen? Desconfio que, no fundo, temos uma boa noção sobre isto. Se o debate público valesse alguma coisa, levaríamos as coisas mais a sério. O sujeito que é acionista da empresa não gasta seu tempo, na reunião do conselho, tagarelando sobre o barraco da festa de final do ano. Não o faz por uma razão simples: sua opinião pesa e ele não irá perder seu tempo com besteira. Na democracia, é o contrário: a opinião do cidadão vale muito pouco. Seu incentivo para levar alguma coisa realmente a sério é quase nenhum. Isto sempre foi assim, nas democracias, mas o fato é que a emergência das mídias digitais deu uma outra dimensão ao fenômeno. Uma razão para isto diz respeito ao custo da informação. Há 30 anos, emitir uma opinião dava muito mais trabalho. Implicava em escrever um artigo, dar uma entrevista na rádio ou imprimir alguma coisa por conta própria e depois distribuir na fila do cinema ou do posto de saúde. Me lembro de tudo isto, nos anos 80. A democracia digital explodiu essas coisas. O debate público se tornou vítima do instantâneo. Há informação demais, discussões demais, sem permitir que o tempo se encarregue de depurar os acontecimentos e separar o que importa daquilo que não passa de lixo em forma de palavras e imagens. Há duas notícias preocupantes aí: a primeira é que isto não faz bem à democracia. A qualidade do debate público, por óbvio, afeta a escolha pública. Quanto mais toxina ideológica espalhamos por aí, mais perdemos tempo e capacidade de gerar consensos e fazer as coisas que importam andar pra frente. A segunda notícia é que se trata de um estado de coisas que veio para ficar. O modus operandi das mídias sociais contaminou a todos, a liderança política, os intelectuais e (ao menos boa parte) da mídia profissional. E mais: fez com que o eleitor, agora transformado em um ativista digital, passasse a se comportar como um pequeno político, usando da retórica e reproduzindo, um a um, todos os vícios que ele vê nos políticos contra os quais esbraveja. Estamos diante de um problema sem saída. Todo mundo conhece o vaticínio de Umberto Eco, segundo o qual a internet fez com que o idiota da aldeia fosse promovido a portador da verdade. O que imagino nem Umberto Eco esperasse era o efeito inverso: que também a elite usualmente tida como portadora da verdade passasse a se comportar, no dia a dia, como o idiota da aldeia. (Fernando Schüler, Insper – Publicado originalmente na Folha de São Paulo, em 23/01/2019)
Obsessão com identidades e histeria conservadora desafiam democracia

Num ano em que o Congresso discutiu reformas fundamentais para o país, os debates que parecem ter mobilizado mais as pessoas –e não só na arena digital– dizem respeito a exposições de arte, nudez, questões de gênero, raça e sexualidade. Qual a explicação para isso? Há consenso de que nos tornamos uma democracia mais instável, polarizada, feita de muito barulho e pouca comunicação. A lógica das políticas de identidade tem algo a ver com isso? E os novos conservadorismos? O que esperar quando questões éticas e estéticas abrangentes, que por definição nos separam, passam a definir a pauta do debate público? Mark Lilla, professor da Universidade Columbia, em artigo provocante no jornal “The New York Times”, sugeriu que os temas de identidade passaram do ponto em nossa democracia. Ele afirma que o progressismo americano anda imerso em um tipo de “pânico moral em função de temas de gênero, raça e identidade sexual” e corre o risco de perder sua capacidade de tratar das grandes questões comuns. Diz que a campanha da democrata Hillary Clinton, a cada comício falando para mulheres, latinos, LGBT e afro-americanos, produziu uma legião de excluídos: os “não citados”, em boa medida galvanizados por Donald Trump. Lilla é duro: sustenta que a fixação na diversidade produziu “uma geração de progressistas narcisisticamente desligados das questões alheias a seu grupo de referência”. O objetivo era dar uma chacoalhada no Partido Democrata —o professor parece culpar a onipresença da retórica identitária pela derrota de 2016. Ecoa, de certo modo, a crítica de Bernie Sanders. E tem um ponto. Em uma entrevista, cita o guru direitista republicano Steve Bannon: “Enquanto vocês estiverem falando de políticas de identidade, nós ganharemos”. O assunto não se inscreve apenas no universo americano. O debate identitário é hoje um tema da democracia —e afeta também o Brasil. A atriz Taís Araújo causou algum ruído ao afirmar que vive num país em que as pessoas atravessam a rua quando cruzam com seu filho, negro como ela; o mesmo fez o professor Ives Gandra Martins, dizendo ser difícil viver no Brasil de hoje não sendo homossexual, negro ou índio. Ambos foram satirizados, e suas falas por óbvio contêm exagero. Mas são um sintoma. Estaríamos adquirindo traços de obsessão identitária e certa histeria conservadora, na linha descrita por Lilla? Tudo indica que sim, e é muito provável que se encontre aí uma das raízes do atual mal-estar de nossa democracia. ACORDO POLÍTICO Para começar, um passo atrás. A democracia é filha das sociedades de direitos que emergiram no mundo moderno, num longo curso de sedimentação dos valores da tolerância e igualdade de todos diante da lei. John Rawls definiu seu desafio central: obter um grande acordo entre pessoas que divergem fundamentalmente sobre temas de natureza filosófica, religiosa ou moral. Isto é, entre pessoas que seguem visões verdadeiras, ainda que mutuamente excludentes, a respeito de questões centrais da vida humana. Para Rawls, o único acordo possível deve se dar no âmbito político, não metafísico. Ou seja, num plano abaixo da retórica moral, e por isso capaz de aproximar pessoas que de outra forma viveriam em uma eterna guerra de posições. É precisamente nesse plano que se encontra a ideia da “grande sociedade” e sua organização formal à base de direitos e respeito à diferença. Movimentos identitários foram fundamentais em sua construção. É o que mostram as lutas pelos direitos civis, nos anos 1960, e pela não discriminação sexual, em nosso tempo. É o que se lê no manifesto seminal do Combahee River, grupo feminista negro que atuou em Boston de 1974 a 80 —sua razão de ser é “a crença compartilhada de que mulheres negras são inerentemente valiosas”. Ocorre que, após a Guerra Fria, assistiu-se a uma curiosa inflexão. Ao mesmo tempo em que democracias foram se tornando mais inclusivas e se consagraram novos direitos (símbolo disso é a legalização do casamento gay pela Suprema Corte americana, em 2015), a retórica da identidade e da diversidade ultrapassou em muito a noção universalista de integração de todos à sociedade de direitos, passando a funcionar como força de fragmentação do espaço democrático. Nos EUA, nota-se isso particularmente nos campi universitários e em movimentos vagamente associados ao Partido Democrata. A retórica é agressiva e a visibilidade de cada tipo de identidade é seletiva, a depender da capacidade do segmento para agir e obter legitimidade na esfera pública. O resultado é uma forma paradoxal de exclusão. A luz jogada sobre uns produz sombra logo do outro lado. É exatamente o argumento de Lilla ao se referir, como exemplos, aos trabalhadores brancos empobrecidos e a grupos religiosos. A lógica da exclusão carrega um elemento “nonsense”, que aproxima a atitude de grupos identitários e conservadores: a ideia, algo mística, de que o pertencimento a uma identidade ou crença possa produzir alguma superioridade moral em relação ao outro. Não é diferente do que se passa no Brasil. É o que torna legítimo agir com ira santa contra o lançamento de um filme que não retrata “adequadamente” a escravidão ou vetar o uso de uma vestimenta que não pertença a sua própria cultura. Tudo isso soa absurdo, mas se tornou parte do cotidiano de nossas guerras culturais. Vêm daí o veto ao direito de expressão a quem pensa diferente ou os atos hostis contra uma filósofa vista como ameaça aos bons valores (como ocorreu vergonhosamente com Judith Butler em sua visita ao Brasil). Acentua-se uma ambivalência nos movimentos identitários. De um lado, uma visão inclusiva quanto a direitos, que reage à discriminação e demanda que todos façam parte do jogo; de outro, uma visão excludente, na qual a política surge como expressão-de-si, como projeção de um tipo de pertencimento (regionalidade, raça, crença), em vez do exercício da persuasão no espaço público. “Não somos apenas indivíduos”, diz Richard Spencer, “não somos apenas almas ou cérebros, sem gênero e raça, existindo no universo. Nós temos raízes.” Spencer é guru da alt-right, aglomerado supremacista americano. Seu ponto é claro: a negação do universalismo liberal, da alteridade, da ideia iluminista de superação-de-si através da palavra e do argumento. O
Seria Bolsonaro um direitista de esquerda?

Dias atrás eu escutava um ilustre intelectual, apoiador de Bolsonaro, sugerindo o seguinte: essa campanha não é sobre os rumos da economia, regra de ouro ou reformas estruturais que o país precisa fazer. É sobre coisas bem mais elementares. Há uma sensação de insegurança em nossas cidades e de incerteza em nossa democracia. As pessoas desejam ordem. O ponto de Bolsonaro não é discutir se a idade mínima da aposentadoria deve ser aos 60 ou 65 anos, mas insistir em uma pergunta muito simples: quando seus filhos saem à noite, você tem certeza de que eles irão voltar? Ok, tudo isto faz parte de uma estratégia. Bolsonaro está longe de ter um programa estruturado para a segurança pública. Ele sabe que isso conta muito pouco em uma eleição. Seu ponto é encarnar a imagem do homem providencial que bate no peito e dá conta do problema. Vai daí o repertório de frases de efeito e a agenda genérica envolvendo a crítica aos direitos humanos, amplo direito ao porte de arma, redução da maioridade penal e aprovação do chamado excludente de ilicitude, que, no limite, dá carta branca para a polícia “fazer o seu serviço”. O foco de Bolsonaro parece bastante claro: ele confia que esta é uma eleição pulverizada e que é possível a um candidato chegar ao segundo turno com menos de 20% dos votos. Isto posto, sua posição simpática ao regime militar (sob muitos aspectos inaceitáveis) estão longe de ser um problema. Pesquisa do Pew Research Center mostrou que 38% dos brasileiros simpatizam com a ideia de um governo militar, percentual acima da média latino-americana. Entre os que não têm ensino médio completo, o apoio aumenta e vai a 45% da população. Mesmo contando relativamente pouco para o sucesso ou insucesso eleitoral, vale perguntar qual é, afinal de contas, a visão econômica deBolsonaro. Sua retórica é incerta, mas não é difícil ter uma ideia aproximada do que pensa o deputado observando suas votações no Congresso. Se tomarmos sete votações estratégicas, de um ponto de vista econômico, teremos o seguinte quadro: Bolsonaro se absteve na votação da Lei da Terceirização; apoiou a PEC do teto, o fim da participação obrigatória da Petrobras no pré-sal, a reforma trabalhista e a criação da TLP; foi contra a reforma da Previdência e a recente Lei do Cadastro Positivo. Na votação sobre os aplicativos de transporte urbanos, não compareceu. Este histórico não autoriza, ao menos não de forma nítida, a definição de Rodrigo Maia, segundo a qual Bolsonaro seria um tipo de direita, nos valores, e de esquerda, na economia. A ideia é sedutora. Ao contrário do que ocorreu no mundo anglosaxônico, com sua mescla de conservadorismo cultural e liberalismo econômico, teríamos criado a síntese brasileira: o direitismo de esquerda. Mas o fato é que isto é apenas uma meia verdade. Bolsonaro é um personagem dúbio. Ele diz que até pode ser a favor da privatização da Petrobras, mas com uma golden share e dependendo de quem serão os compradores. Sobre a autonomia do Banco Central, foi bastante objetivo, defendendo “mandatos e metas de inflação claras, aprovadas pelo Congresso”. Sua aproximação a Paulo Guedes e economistas liberais, que parece bastante sólida, sugere um personagem em transição entre o nacionalismo folclórico, do início da carreira, a posições pró-mercado pontuadas por eventuais recaídas, marcadas pela fraseologia contra o sistema financeiro e coisas do tipo. Bolsonaro é um caso típico de populista em um dos sentidos sugeridos por Joel Pinheiro da Fonseca: na aposta na lógica da divisão social, do nós contra eles, na ideia vaga, ainda que sedutora, dos “cidadãos de bem contra a elite progressista que quer corrompê-los”. Neste ponto, ele não se distingue muito da esquerda, na mão inversa. É uma retórica eficiente, nestes tempos em que a democracia foi assaltada pela guerra cultural. Quanto à agenda econômica, não é clara a associação de Bolsonaro ao populismo. Suas posições recentes, no Congresso, não autorizam objetivamente este enquadramento. O ponto é que tudo isso parece andar distante da demanda dos eleitores e do debate que se estabeleceu, pelo menos até agora, na corrida eleitoral. O futuro dirá para onde exatamente caminhamos. Fernando Schüler É cientista político, professor do Insper e curador do projeto Fronteiras do Pensamento.
A educação e a armadilha da crise do Estado

O papo estava descontraído, antes de um debate, e o professor me comentou que não fazia chamada, em suas turmas. “Na minha aula vem quem quer”, disse ele. “Fica menos gente na sala, me incomodo menos, é muito melhor”. O que me chamou a atenção foi o desdém, o tom blasé. Dar a “sua aula” era mais importante do que saber se os alunos estavam ou não aprendendo. Achei compreensível. Ele leciona em uma universidade estatal dessas bacanas, que a gente costuma chamar de “públicas”, tem estabilidade e não é avaliado pelo desempenho em sala de aula. A atitude do meu colega de debate é uma migalha do que acontece na educação estatal brasileira. Estudo feito pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo mostrou que, em média, os professores faltam 36 dias por ano na rede pública do município de São Paulo. Na rede estadual a média é de 30 dias. Não se trata aqui de julgar os professores, dizer que são piores ou melhores do que os do setor privado. É a regra do jogo que está mal desenhada. É o “modelo” de educação estatal que leva a este resultado. Os efeitos disso tudo são conhecidos. Nossos alunos das redes públicas ocupam as últimas posições no PISA (teste feito pela OCDE com estudantes aos 15 anos, em 65 países) e o IDEB alcançado pelas escolas privadas, no ensino médio, é 51% maior do que o das redes públicas. A falência da educação estatal levou a uma migração maciça da classe média para as escolas particulares. Criamos um sistema brutal de exclusão: os mais ricos escolhem a escola de seus filhos e obtém os melhores resultados; os mais pobres ficam por conta do Estado. Espécie de versão aguda da metáfora da Belíndia, criada nos anos 70 pelo economista Edmar Bacha. Nossa modelo de apartheid educacional produziu algo próximo ao que o sociólogo Robert Merton chamou de “efeito Mateus”. A inspiração vem da passagem bíblica que diz “ao que tem, mais será dado…mas ao que nada tem, até mesmo isso lhes será tomado”. O mecanismo de exclusão leva a um ciclo de “desvantagens cumulativas”: menor renda, colégios de baixo desempenho, redes restritas de interação social, estigma, estreitamento do leque de oportunidades. É evidente que o ciclo não determina o destino de ninguém. É sempre possível dar a volta por cima. De vez em quando acontece, mas não é a regra. Quebrar o apartheid educacional brasileiro significa exatamente isto: buscar que se torne regra o que hoje é exceção. É possível que tudo isso seja apenas uma “consequência não intencionada” do sistema de ensino estatal, no Brasil. Prefiro pensar que se trata de um resultado bastante previsível. Escolas estatais, no Brasil, funcionam como repartições públicas. Não tem autonomia orçamentária ou liberdade para contratar ou descontratar professores; subordinam-se à burocracia da lei das licitações; diretores são eleitos, gerando um pacto corporativo com os professores; governos se alternam, a cada quatro anos, e no fundo podem fazer muito pouco para melhorar o sistema, a longo prazo. Exceções, como o sempre mencionado bom desempenho das escolas de Sobral, no Ceará, apenas servem para confirmar a regra. Diante desse cenário, nossos gestores públicos se recusam a buscar alternativas. No fundo é uma situação confortável, feita do pacto silencioso entre a corporação sindical e a elite (empresarial e acadêmica) disposta a “mudar a educação”. Disposta a patrocinar estudos e pinçar exemplos de sucesso aqui e ali, imaginando que tudo será diferente em dez ou vinte anos. No curto prazo, as coisas prosseguem como sempre foram. A corporação com seus “direitos” e os mais ricos à salvo em boas escolas particulares. Os mais pobres, como reza a tradição, em silêncio. Penso que é preciso mudar. O País precisa experimentar novas formas de gestão da educação pública, do ensino básico ao ensino superior, sem preconceitos. No plano global, há duas grandes linhas de inovação: os sistemas de voucher, em que o governo oferece uma bolsa e dá direito de escolha às famílias, ao invés de gerenciar escolas; e o modelo das charter schools, em que o governo assina contratos de gestão com instituições especializadas, de direito privado e sem fins lucrativos. Em ambos casos, o governo passa da condição de gestor direto para regulador do sistema. O Brasil já conhece estes modelos. O ProUni funciona como um sistema de voucher, e é um sucesso. Pesquisa encomendada pela ABRAES, com base nos resultados do ENADE entre 2010 e 2012, mostrou que os alunos com bolsa integral no sistema obtém notas superiores a dos alunos de Universidades Públicas, com renda média muito superior. Este e outros indicadores tem ajudado a derrubar uma das mais cruéis narrativas do debate educacional brasileiro, segundo a qual os alunos não conseguem aprender devido à pobreza. No plano das charter schools, o Brasil desenvolveu, nas últimas duas décadas, o bem sucedido modelo das Organizações Sociais. São amplamente conhecidos os resultados obtidos pelas OS da saúde, no Estado de São Paulo, bem como o sucesso obtido por organizações como a OSESP, Pinacoteca do Estado, o Museu do Amanhã e outras organizações culturais. Na educação, temos a experiência do IMPA e exemplos de menor alcance em diversos municípios brasileiros. Recentemente, o País aprovou o novo marco legal das organizações da sociedade civil, a LEI 13.019/14, que funciona como uma perfeita legislação para a implementação do modelo de charter schools. A lei explicitamente prevê a celebração de termos de colaboração dos governos com organizações privadas sem fins lucrativos, na área da educação. Nosso marco jurídico está completo e temos a nossa disposição uma série de bons exemplos. O que nos impede de avançar? Os estudos realizados com programas de voucher tem oferecido resultados mistos. Na Índia, um programa experimental realizado no Estado de Andhra Pradesh, com crianças escolhidas aleatoriamente, mostrou resultados promissores. Em que pese os resultados em disciplinas tradicionais, como a matemática, não apresentassem variações consideráveis, os alunos que migraram para as escolas privadas passaram a aprender mais rapidamente (ganho médio de 30%) e a
Existe mesmo uma onda conservadora?
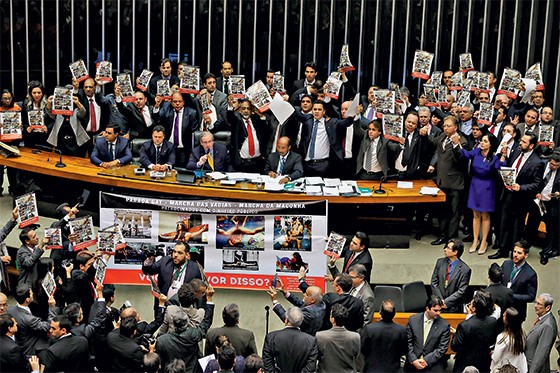
Houve tempo em que a assim chamada esquerda dominava amplamente o debate público brasileiro. Seu auge parece ter sido em algum momento, entre os anos noventa e os inícios da década passada. Depois as coisas começaram a mudar. Trata-se de uma hegemonia que vem de longe. Em seu ensaio “Cultura e política, 1964-1969″, escrito no final dos anos sessenta, Roberto Schwarz observa o fenômeno e tenta algumas explicações. Em pleno regime militar, escreve, “há relativa hegemonia cultural da esquerda. Pode ser vista nas livrarias de São Paulo e Rio, cheias de marxismo, nas estréias teatrais…na movimentação estudantil ou nas proclamações do clero avançado”. E conclui: “nos santuários da cultura burguesa a esquerda dá o tom”. O próprio Schwarz corroborava a dicotomia, um tanto óbvia para aqueles anos duros, em que a palavra “esquerda” surge sempre como polo positivo, e “direita” como polo negativo. Direita e esquerda não passam disso: palavras, em regra destituídas de um sentido preciso. Funcionam como peças do xadrez político, a cada momento. Não compreender isto é enxergar metafísica, no mundo plástico da política. Ou fazer o jogo. Schwarz usa o conceito nos termos dos anos sessenta. Esquerda são os comunistas e a “gente boa” das universidades e da vida cultural. Direita são os militares e sua turma. Seu temor era de que a esquerda perdesse sua hegemonia cultural, com a repressão e o endurecimento do regime, após o AI5. Seu prognóstico estava errado. No País que emerge do regime autoritário, nos ano 80, a hegemonia intelectual desta mesma esquerda é brutal. Antônio Candido, em seu Direito à Literatura, de 1988, observa ser raro, naqueles anos, encontrar algum político ou empresário que arriscasse se definir como conservador. E arremata: são todos “invariavelmente de centro, até de centro-esquerda, inclusive os francamente reacionários”. De minha parte, guardo a memória incômoda dessa época, em que a vulgata marxista e suas variantes formavam uma espécie de atmosfera, fora da qual era difícil respirar. Estudante, em Porto Alegre, ainda me lembro quando conheci, na virada para os anos 90, os dois primeiros jovens “liberais”. Observei-os como aves raras, e os achei mais cultos e menos dogmáticos do que quase todos os meus amigos da “esquerda”. Fiquei com a pulga atrás da orelha. Percebi que a doutrinação, na universidade, havia produzido uma limitação intelectual importante, a toda uma geração. E que era preciso recuperar o tempo perdido. Este mundo explodiu em algum momento, na virada para o século XXI. O fez por muitas razões. A queda do muro, o fim da guerra fria, a abertura comercial e a redução da pobreza global. O aumento da informação sobre o que dava certo, ou não, em matéria econômica. Alguém pode dizer que tudo isto já era sabido uma década antes. Mas as coisas demoram a chegar por aqui, e hegemonia cultural supõe um processo lento de sedimentação. Os intelectuais fizeram a sua parte. Seja organizados em think tanks, como o instituto liberal, criado por Donald Stewart Jr, no início dos anos 80, seja atuando de modo independente. Funcionou, para o lado contrário, o mesmo enredo descrito por Schwarz para a ascensão da esquerda, nos anos 50 e 60, quando ela, ao mesmo tempo que lamentava seu “confinamento e a sua impotência”, foi “estudando, ensinando, editando, filmando, falando etc., e sem perceber contribuíra para a criação de uma geração maciçamente anticapitalista”. O novo “lado contrário”, não obstante, é plural. Move-se por valores ora republicanos, ora conservadores; ora com vezo social-democrata, ora liberal. Qualquer definição tende a deixar escapar sua diversidade. Decisivo, neste percurso, é o efeito da internet. A hegemonia intelectual da esquerda dependia do seu controle sobre instituições. Universidades, escolas, instituições culturais. Sobre órgãos da igreja, redação de jornais e diretórios estudantis. E, por óbvio, sua eficiência brutalmente maior na ação partidária. A internet explodiu este mundo relativamente fechado. O poder da palavra se diluiu, ou melhor, disseminou-se pelo tecido social. Foi a via de expressão de uma contra-hegemonia. No começo bastante tímida, feita como guerra de foco, de blogs, artigos de opinião, tradução de literatura “não alinhada”, de corte liberal, antes rarefeita. Da presença cada vez maior no debate de ideias, em todos os níveis. A eleição de Lula, em 2002, acelerou este processo. Não contente em simplesmente ser governo, o PT fez algo que não se via, no Brasil, desde o ciclo militar: propôs uma narrativa sobre o Brasil. Uma narrativa escludente, que levou a lógica do partido para dentro do Estado. Lula surge como divisor de aguas. Demiurgo do novo país, voltado para os “de baixo”. Dai o mantra “nunca antes neste país”. Em uma sociedade plural, era previsível que esta narrativa produzisse reação. E é ela que tem dado o tom de nossa guerra cultural. Engana-se quem atribui a oposição ao petismo à aversão da classe média à redução da pobreza, no País. A reação diz respeito à toxina ideológica. Numa expressão, faltou grandeza aos novos donos do poder. Ao invés da afirmação de consensos, a aposta no conflito. Como escutei de um observador arguto, tempos atrás, tipos como Bolsonaro são, em boa medida, produtos da crispação política produzida pelo petismo. Ocorreu o mesmo no debate entre liberais e conservadores, na era Bush e, em menor escala, no governo de Obama. Cada povo tem o Tea Party que merece. A guerra cultural se diferencia do debate comum, no dia a dia das democracias. O debate se torna grandiloquente. Cada questão é vista como dizendo respeita a um “projeto de país”, ou a “modelos de sociedade”. Direitos LGBT? querem destruir a família…Reúnem-se partidos de esquerda? estratégia do comunismo internacional…Investiga-se o caixa dois na campanha da Presidente? o lacerdismo golpista…Redução da maioridade penal? querem criminalizar jovens negros e pardos. A guerra cultural se instala quando falta um consenso básico em torno de valores, na sociedade. Um dos elementos definidores de nossa “democracia instável”, na precisa definição do nosso sistema político, feita pelo cientista político Francisco Ferraz (em seu livro recente, com o sugestivo título: Brasil: cultura política de uma democracia mal resolvida). É
A nova era das bruxas de Salem

Prende o canalha! Mata! A audiência de custodia do ex-Ministro Geddel Vieira ia passando, na internet, e a turma mandando ver nos comentários. Ok, o ex-Ministro não é um tipo propriamente popular e há acusações pesadas contra ele. Cabe à justiça resolver. O que me impressionava era a coleção de palavrões e a banalização da palavra “morte”. Fosse com Lula ou Aécio, imagino, a coisa não seria muito diferente. A ira santa da internet não parece obedecer a partidos ou a ideologias. Lia aqueles comentários e me lembrava da série The Tudors. A cada vez que algum infeliz era decapitado, a mando do Rei, uma pequena turba se reunia em frente ao patíbulo e gritava coisas na mesma linha: morte, patife! acabem logo com isso! Não digo que seja a mesma coisa. No século XVI o sujeito estava ali em carne e osso, levando uma machadada no pescoço. Nos dias que correm tudo é mais civilizado. Há um juiz comandando a cena e o pior que pode acontecer é o tipo acabar no presídio de Bangu. A era das Bruxas de Salém já vai longe. Mas há algo incomodamente comum entre estas situações que parece atravessar o tempo. A perversidade, na internet, não é apenas um tema pitoresco. Pesquisa publicada recentemente pelo Pew Research Center mostra que 41% do público americano já sofreu algum tipo de assédio ou agressão no mundo digital. 18% sofreram o que consideram situações graves envolvendo perseguição, ameaças físicas ou danos sérios de imagem. As razões? 14% vem da política, 9% da aparência física, 8% do preconceito racial. Por certo há muita subjetividade nisso e é possível imaginar que boa parte das ocorrências tenha pouca relevância. Mas outra parte não. Os dados mostram que triplicou, nas últimas duas décadas, os suicídios entre meninas adolescentes, boa medida devido ao bullying digital. Há um traço sombrio no universo digital que parece não respeitar idade, sexo ou qualquer fragilidade humana. É sedutor imaginar que a crueldade, no mundo digital, atenda a uma lógica determinada ou venha de um grupo específico de pessoas. Venha da “direita” ou da “esquerda”, por exemplo, ou que surja de grupos racistas, sexistas ou portadores de algum tipo de psicopatia. As evidências mostram o contrário. A agressividade parte de gente perfeitamente razoável, mas que no contexto digital muda de pele. Me faz lembrar o espanto de Hannah Arendt no julgamento de Adolf Eichmann, ao descobrir que o carrasco nazista não passava de um burocrata perfeitamente “normal”. A sombra de Eichmann ronda a internet? Estaríamos às voltas com uma multidão de gente bacana que subitamente se torna dogmática e cruel no mundo digital? Tudo isso é perfeitamente previsível ou estamos com um problema? Não arrisco uma reposta definitiva, mas intuo que isto explique, em boa medida, o fenômeno da tribalização da internet. Muita gente concluiu que a arena caótica das redes sociais não funciona para gerar diálogos que valem à pena. É possível que tenham razão. Uma explicação para o fenômeno foi apresentada pela neurocientista inglesa Susan Greenfield. Seu ponto foi demonstrar que o isolamento digital produz uma redução da empatia entre as pessoas. “Quando ficamos muito tempo no computador, somos todos autistas, diz Greenfield, e completa: “não vemos a pessoa ficar vermelha, engolir em seco, ficar nervosa”. Daí a conclusão: “quanto mais engajamento no ciberespaço, maior a redução da empatia”. A tese põe em cheque muitas das esperanças alimentandas no passado recente sobre as possibilidades da “democracia digital”. O debate público tende a funcionar bem quando se pensa em comunidades, em um cenário de múltiplas organizações voluntárias e grupos de pessoas capazes de tomar iniciativas e gerar consensos. Algo que Alexis de Tocqueville enfatizou em seu clássico “A democracia na América”. A democracia demandava uma rede de corpos intermediários. Espaços comuns de diálogo e aprendizado entre os cidadãos. No mundo digital, a tendência parece oposta: pessoas mais ou menos solitárias praticando a velha guerra de posições. Gente que se imagina virtuosa reproduzindo alguns dos piores vícios dos políticos que tanto abominam. O economista americano Anthony Downs ressaltou um problema congênito nas democracias: o voto das pessoas não vale muita coisa, em uma eleição, e por isso elas tem muito pouco incentivo para buscar informação e agir com responsabilidade. Mesmo que você morasse em Araguainha, no interior de Mato Grosso, o menor colégio eleitoral do Brasil, seu voto valeria quase nada. Algo próximo a 0,1% do total. As pessoas podem votar porque são obrigadas, por paixão política ou mesmo por espírito público. Será sempre mais racional não se preocupar muito com a política e agir como um alienado. E é basicamente isto que as pessoas fazem. A novidade, na era digital, é que uma incrível multidão de pessoas passou, de uma hora para outra, a exercitar ativamente a sua alienação. O alienado passivo dos tempos pré-internet era um tipo calado. Ele observava à distância as coisas públicas e ficava na dele. Era essencialmente alguém que não sabia. O alienado ativo é seu oposto: ele sabe de tudo. É o sabe-tudo das redes sociais. Sabe mais de direito do que um Ministro do Supremo, mais de economia do que um PhD em Harvard e, por óbvio, mais sobre futebol do que o Tite. É um tipo até engraçado, reconheço. Talvez seu ruído faça melhor à democracia do que o antigo silêncio. Não sei. Por ora não consigo enxergar muita virtude nisso tudo. Percepção mais otimista tive do sociólogo Richard Sennett e sua ideia de uma “nova diplomacia” no universo digital. “Não há outra saída”, me disse ele, em uma agradável conversa em seu apartamento, no Village, em Nova Iorque. As pessoas vão bater com a cabeça na parede até aprender. Aprenderão a usar o modo subjuntivo. O “quem sabe” ou o “talvez fosse melhor”, e com isso abrirão espaços para o diálogo. Caso contrário a conversa de surdos prosseguirá. Me despedi do professor um tanto cético e mas fui caminhar no High Line, com aquela ideia na cabeça.
Por que os milionários brasileiros não doam para as universidades?

Stephen Schwarzman costumava fazer suas refeições no Commons, quando estudante em Yale, em meados dos anos 60. Sujeito tímido, vindo de escola pública, sentia-se bem naquele edifício de estilo neoclássico, situado no coração da Universidade. Formado em 1969, Schwarzman percorreu passo a passo o sonho americano. Nos anos 80, criou o grupo Blackstone, hoje um dos maiores fundos de investimento dos Estados Unidos. Consta como a 122º pessoa mais rica do planeta, na lista da Forbes. No último dia 11 de maio, anunciou uma doação de U$ 150 milhões para a conversão do velho Commons em um moderno centro de artes. O centro levará o nome de Schwarzman. Há quem veja nisso um simples desejo de “imortalidade através do dinheiro”, como lí em uma crítica. Pouco importa. Talvez alguém tenha pensado o mesmo quando Lenand Stanford criou a universidade que levaria seu nome, na década de 1880, na Califórnia. Ou quando resolveram dar o nome de Solomon Guggenheim, logo após sua morte, ao Museu projetado por Frank Lloyd Wright, no coração de Manhattan. Quem sabe teria sido melhor, para os Estados Unidos, imitar o exemplo brasileiro. Por aqui, pouca gente tenta perpetuar o próprio nome, doando para universidades e museus. Talvez por isso lê-se, por estes dias, o anúncio de fechamento da Casa Daros, primoroso espaço de artes, no Rio de Janeiro, por falta de recursos. A tradição da filantropia americana vem de longe. É possível pensar que Andrew Carnegie seja seu maior ícone e, de certo modo, definidor conceitual. Imigrante pobre, Carnegie fez fortuna na siderurgia americana, na segunda metade do século XIX. Em 1901, aos 66 anos, vendeu suas indústrias ao banqueiro J.P Morgan e tornou-se o maior filantropo americano. Uma de suas tantas proezas, não certamente a maior, foi construir mais de três mil bibliotecas, nos Estados Unidos. Em 1889, escreveu o artigo The Gospel of Weath, defendendo que os ricos deveriam viver com comedimento e tirar da cabeça a ideia de herdar sua fortuna aos filhos. Melhor seria doar o dinheiro para alguma causa, ou várias delas, a sua escolha, ainda em vida. O Estado poderia dar um empurrãozinho, aumentando o imposto sobre a herança, mas deveria evitar a tributação das grandes fortunas. O melhor resultado, para todos, seria obtido se os próprios ricos distribuíssem sua riqueza, com cuidado e responsabilidade. Recentemente, foi o argumento usado por Bill Gates, o maior filantropo da nossa era, em oposição a Thomas Piketty e sua obsessão em tributar os mais ricos. Gates não fala da boca pra fora, nem é uma voz isolada. Em 2009, lançou, junto com Warren Buffett, o mais impressionante movimento de incentivo à filantropia já visto: The giving pledge. A campanha tem, até o momento, 128 signatários. Para participar, basta ser um bilionário e assinar uma carta prometendo doar, em vida, mais da metade de sua fortuna a projetos humanitários. Para boa parte dessas pessoas, doar 50% é pouco. Larry Elisson, criador da Oracle, comprometeu-se em doar 95% de sua fortuna hoje avaliada em U$ 56 bilhões. Buffett foi além: irá doar 99%. Como bem observou o filósofo alemão Peter Sloterdijk, parece que, ao contrário do que acreditávamos no século XX, não são os pobres, mas os ricos que mudarão o mundo. Sloterdijt, por óbvio, não conhece bem o Brasil. Enquanto nos Estados Unidos, o valor das doações individuais à filantropia chega a U$ 330 bilhões/ano. No Brasil, os números são imprecisos, mas estima-se que o montante não passa de U$ 6 bilhões/ano. Apenas 3% do financiamento a nossas ONGs vem de doações individuais, contra mais de 70%, no caso americano. Há, na lista da Forbes, 54 bilionários, no Brasil. Nenhum aderiu, até o momento, ao movimento da Giving Pledge. Consta que Jorge Paulo Lemann, o número um da lista, foi convidado. Não duvido que dia desses anuncie sua adesão. Seria um divisor de aguas para o País. Explicações não faltam, para esta disparidade. Há quem goste de debitar o fenômeno na conta da nossa “formação cultural”. Por essa tese, estaríamos atados a nossas raízes ibéricas, sempre esperando pelos favores do Estado, indispostos a buscar formas de cooperação entre os cidadãos para construir escolas, museus e bibliotecas, ou simplesmente para consertar os brinquedos e plantar flores na praça do bairro. É possível que haja alguma verdade nisso. O Rei Dom João III, lá por volta de 1530, dividiu o país em capitanias hereditárias e as dividiu entre fidalgos e amigos da corte portuguesa. Fazer o que? Enquanto isso, os peregrinos do Mayflower, desembarcaram nas costas da Nova Inglaterra movidos pela fé e amor ao trabalho para construir um novo país. Uma bela historia, sem duvida. Muito parecida com a de meus antepassados alemães, que desembarcaram em 1824 às margens do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Há muitas histórias, há muitos tipos de formação cultural, no Brasil, assim como nos Estados Unidos. Não é difícil escolher uma delas para justificar qualquer coisa. De minha parte, desconfio da tese do caráter cultural. Ela é abstrata de mais, difícil de mensurar e, pior, tende a levar à acomodação. Prefiro concentrar o foco na variável sobre a qual – ao menos em boa medida – temos controle. E esta variável é institucional. Minha tese é: o modelo institucional e de incentivos que adotamos simplesmente não favorece o desenvolvimento da filantropia. Ele incentiva que as pessoas esperem que o Estado resolva os seus problemas. E é o que elas fazem, em geral. Vamos a um exemplo: nossos sistemas de incentivo fiscal a doações. Nos Estados Unidos, se alguém quiser doar algum recurso para o MoMA (o Museu de Arte Moderna, em Nova Iorque), poderá abater até 30% de seu rendimento tributável. Para algumas instituições, este percentual sobe a 50%. No Brasil, seu abatimento é limitado a 6% do Imposto de renda devido, isto se o contribuinte fizer a declaração completa. O pior, no entanto, acontece do outro lado do balcão. Para receber a doação, o Museu brasileiro deverá ter um projeto previamente aprovado pelo Ministério da

