Essa eleição é o fim de um ciclo

DINHEIRO – Qual é a lição que se pode tirar destas eleições? Fernando Schüler – É uma eleição inteiramente diferente de todas as outras. Até 2014, vivemos um ciclo da política, marcado pela disputa entre variantes da social democracia brasileira. Dilma (Rousseff, PT) e Aécio (Neves, PSDB) tinham divergências de natureza política e econômica, mas não divergência de natureza cultural. Isto é curioso. Gastamos vinte anos acreditando que o mundo se dividia entre esquerda e direita e que Fernando Henrique era um perigoso neoliberal. Agora descobrimos que o mundo é mais complicado. Bolsonaro representa uma ruptura desse ciclo histórico. Ele introduz um tipo de cisão no terreno da guerra cultural. Temas morais invadem a política. A obsessão com as identidades, de um lado, e a reação conservadora, de outro. No fim todos perdem, pois este é um debate impossível. Ele vai muito além dos limites possíveis da política. DINHEIRO – Isso significa que o Bolsonaro é a novidade na política nacional? Schüler – Evidente. De certo modo fomos globalizados: temos o nosso populista conservador. Um tipo de conservadorismo popular, de costumes, que representa uma tradução brasileira da ideia de “lei e ordem”. Nada a ver, por óbvio, com a grande tradição conservadora anglo-saxônica. Nosso conservadorismo não trata de Burke, mas do pastor Malafaia. Podemos não gostar disso, mas é tudo legítimo. Expressa o pensamento de parcela relevante da sociedade, que andava dispersa por aí. Em quem estas pessoas votavam, até 2014? Em Aécio, Dilma, ou na Rede, de Marina Silva? A democracia vai criando suas próprias soluções. Eu não gosto do vezo populista, mas o que isto importa? O Brasil foi pautado, ao longo das gestões do PT, por uma retórica excludente, do “nós contra eles”. O “nunca antes neste país”. É evidente que isto criaria um efeito reativo. Demorou, mas aconteceu. Custa caro, para a democracia, apostar o tempo todo na lógica do dissenso. Bolsonaro é o produto extremo de uma sociedade que já vem polarizada há muito tempo. É evidente que a crise ética, política e econômica que vivemos funcionou como o estopim do processo. Terreno fértil para um líder populista e antissistema. Agora lide-se com ele. DINHEIRO – Ele se aproveitou do cenário atual? Schüler – O Bolsonaro não criou esse cenário, ele é seu resultado. Ele verbalizou e deu viabilidade política a um descontentamento difuso na sociedade com o sistema político. Não é simples explicar a emergência de um fenômeno populista. Em regra, combina-se crise econômica, exclusão (por vezes cultural) de amplos setores, polarização e instabilidade política a nova lógica da democracia digital. O líder populista fala diretamente com as pessoas, dispensando os partidos e instituições tradicionais de mediação. É o que faz Bolsonaro: ele não está interessado em alianças ou no dinheiro do fundo público de campanhas. Usa a internet e seu movimento se propaga de modo caótico, nas redes sociais. Daí sua força. DINHEIRO – A democracia está em risco por conta disso? Schüler – Tudo isto é fruto da democracia, ainda crie um brutal desconforto. Não acho que isto se resolva apostando na retórica do medo e da “ameaça fascista”. Isto é um jeito fácil e tolo de lidar com um problema muito mais profundo. Quem se acostumou a jogar o jogo sozinho não percebe um aspecto crucial: a democracia é uma formidável máquina de moderar posições políticas. Inclusive aquelas que eventualmente nascem de uma retórica autoritária. Isso aconteceu com muita gente da esquerda, que nos anos 80 ainda falava em revolução. Lula perdeu três eleições, moderou o discurso, ganhou o jogo e foi incorporado ao main stream político. A democracia é inclusiva. Ela agora também pode inclui a direita, o conservadorismo, mesmo que você, eu e muita gente possa torcer o nariz. DINHEIRO – As posições do Bolsonaro não são radicais? Schüler – É evidente que o Bolsonaro tem um traço autoritário e alimenta teses insustentáveis, como o elogio a torturadores. A esquerda fazia isso com o elogio reiterado, que acontece até hoje, à ditadura castrista, em Cuba, e o apoio explícito ao autoritarismo na Venezuela? É curioso como nós “normalizamos” essas coisas. Nós cultivamos uma curiosa indignação seletiva, que chegou a um esgotamento, nos dias de hoje. A forma de lidar com essas coisas é dobrar a aposta na democracia. Tenho dito que não adiante pregar o diálogo e a moderação e, ato seguinte, chamar o adversário de fascista. O pior caminho para a nossa democracia é excluir as novas formas de representação e de setores importantes para a sociedade brasileira, que eventualmente estiveram fora do poder, mas agora querem fazer parte do jogo. DINHEIRO – Quais são os outros exemplos de excluídos? Schüler – Isso acontece com os liberais no Brasil. Pela primeira vez, eles têm uma clara expressão política representada com o Partido Novo, que é um dos grandes vencedores dessa eleição. O NOVO é um partido inovador, no Brasil, pois nasce de um conjunto de ideias, e não de um arranjo político. Em quem votavam os liberais, no Brasil? No PSDB? Talvez. Mas agora há um partido, e por isso nossa democracia está mais completa. O mesmo vale para o PSOL, que é uma alternativa de esquerda mais nítida que o PT, e cresceu nestas eleições. DINHEIRO – As redes sociais vão ser um marco importante na análise dessas eleições? Schüler – Estas foram as eleições do cidadão comum, dos sem-retórica. O tipo que não se enquadra e mesmo reage a qualquer disciplinamento ideológico. Ele ganhou poder com a tecnologia, e vem produzindo um enorme barulho. Em geral, a elite intelectual não o suporta. Umberto Eco deu perfeitamente o tom: é o idiota da aldeia. Poucas vezes eu vi em uma democracia um divórcio tão grande entre o pensamento do homem comum e o pensamento da elite política intelectual. É uma espécie de incompreensão. Isso vem de um crescimento do politicamente correto, das restrições ao humor, à imposição de códigos identitários e a obediência a uma certa estética. Bolsonaro, em grande medida, se fez a representação do tipo que
Fernando Schüler: “Precisamos aprender a diferença entre o público e o estatal”

O Estado da Arte dá início a um Especial sobre os caminhos para educação no Brasil. Quais os modelos mais bem sucedidos ao redor do mundo? Quais as vias possíveis para as nossas políticas públicas? Quais são os diagnósticos, prognósticos e terapêuticas mais avalizados à nossa disposição? Abrindo a série, o cientista político e professor do Insper Fernando Schüler critica o modelo de gestão estatal no Brasil e avalia alternativas, como os sistemas de contratualização com escolas privadas e de vouchers para educação, como o ProUni, em que os estudantes subsidiados podem escolher a instituição em que desejam se formar. O senhor vem argumentando que o núcleo do problema da educação brasileira é o modelo estatal de gestão das escolas e do sistema de ensino. Em um artigo para a revista Época, o senhor caracterizou isso como “o lobby da educação estatal”. O que explica a força desse lobby? O artigo parte de um reconhecimento: não há uma crise genérica da educação, no Brasil. O que existe é uma crise do Estado na educação. Nossa rede privada de ensino está longe de ser de excelência, mas seus resultados, em média, são próximos aos dos estudantes norte-americanos, no Programa Internacional para a Avaliação Internacional de Estudantes. O que existe no Brasil é a brutal falência do modelo de gestão estatal do ensino. Reconhecer isto é o primeiro passo para mudar a realidade. Há um problema endógeno afetando nossas escolas estatais. Ele provém da forma como estruturamos a gestão pública brasileira na Constituição de 1988. Escolas são repartições públicas; professores têm estabilidade total no emprego; a burocracia impera e tudo tem de ser feito via lei de licitações (a Lei 8.666/93), que é lenta e inadequada para gerenciar escolas. Os diretores de escolas são eleitos, sujeitando-se a toda sorte de pressões corporativas; os governos mudam a cada quatro anos, afetando qualquer ideia de planejamento de longo prazo. Em boa medida, é o mesmo problema que afeta a saúde pública e outras áreas de prestação de serviços pelos governos. O resultado é previsível: a classe média fugiu do Estado e migrou para as escolas particulares. Com isto geramos, ao longo do tempo, uma brutal desigualdade educacional. Me espanta que nossos gestores públicos e boa parte da academia brasileira não reconheça nada disso. Imagino que isto ocorra por comodismo político, pressão das corporações ou simplesmente por ideologia. É esse o lobby da escola pública. Os sindicatos são apenas sua cara “visível” e barulhenta. O Brasil tem um grande número de movimentos, institutos e fundos dedicados ao tema da educação. Se esse tema da gestão não está na pauta, qual é, então, o foco desses grupos que atuam em defesa de melhorias na educação? Há muitas instituições fazendo um ótimo trabalho. Elas ajudam a treinar gestores escolares, propor inovações didáticas, combater o preconceito e a intolerância, premiar boas práticas, e tudo isto é sumamente importante. A única coisa que ninguém parece se permitir é o questionamento do “modelo”. No cânone brasileiro, as ideias de “público” e “estatal” se confundem. Não se reconhece a possibilidade de uma esfera pública não estatal, a simples ideia de que o Estado pode garantir o direito à educação sem necessariamente gerir todas as escolas. O Brasil, neste ponto, é um país curioso: reconhece-se que o governo não é competente para gerir estradas, portos ou aeroportos; mas para gerir escolas imagina-se que sim. Lá no fundo, imagino, ninguém realmente acredita nisso. É apenas uma situação confortável. A mesma elite que promete melhorar a educação no “longo prazo” há muito tempo recorre à rede privada de ensino para educar seus próprios filhos. Este é o lado mais cruel de nosso apartheid educacional. Ele tem um componente ético: nega-se aos mais pobres um tipo de direito (estudar em boas escolas, ou simplesmente escolher onde estudar) do qual nenhum de seus defensores, sob hipótese alguma, abriria mão. Este é um ponto que enfatizo em meu artigo: há um pacto silencioso. Não digo que ninguém desejou criar um sistema de exclusão educacional, no Brasil. Mas ela está aí. É uma “consequência indesejada” do modelo estatal. E é uma situação a que todos nos acostumamos, sempre contando com a infinita paciência dos mais pobres para esperar que o “longo prazo” um dia apareça. O senhor menciona em seu artigo mais recente para a revista Época duas alternativas ao sistema estatal: as charter schools e o voucher educação. Esses modelos, no entanto, têm apresentado resultados muito desiguais, com resultados positivos (que o artigo ressalta bem) e negativos, como apontou o relatório do Departamento de Educação norte-americano no último mês de que mostrou resultados negativos para os vouchers no distrito de Columbia. O que tem dado errado? O que deve ser evitado, caso se busque implementar esse modelo no Brasil? A avaliação feita no sistema de voucher do Distrito de Colúmbia refere-se apenas ao primeiro ano de funcionamento do programa. No processo das charter schools tem sido registrado o mesmo fenômeno. Quando há a migração de um estudante de uma escola pública tradicional para uma escola privada de maior performance, é necessário um tempo de adaptação. Isto aconteceria no Brasil ou em qualquer lugar. O Estado de Wisconsin tem o mais antigo programa de voucher dos Estados Unidos, com 27 anos de funcionamento, e os resultados são bastante positivos. Estudo feito pelo Center for Research on Educational Outomes, da Universidade de Stanford, mostrou que os alunos que fazem a transição para charter schools apresentam, logo de partida, uma pequena piora em relação aos que permaneciam no sistema estatal. Mas a partir do segundo ano seus resultados já são ligeiramente superiores. No quarto ano, é notável o avanço em seu desempenho. Mas é preciso cuidado neste tipo de análise. Nenhum modelo, por si só, tem o poder de mudar a educação. É preciso que seu design institucional seja bem feito. No Chile, por exemplo, houve equívocos na implantação do voucher. Permitiu-se que as famílias adicionassem dinheiro à bolsa recebida, de modo a contratar escolas mais caras e sofisticadas. Reproduziu-se um modelo de desigualdade. Em 2008 isto foi corrigido, em boa medida, com excelentes resultados. Você vai encontrar bons e maus resultados em diferentes modelos de gestão educacional. O ProUni, no Brasil, que
Fernando Schuler: Ponto a ponto na BandNewsTV

O cientista político Fernando Schüler, entrevistado do Ponto a Ponto na BandNewsTV, debateu sobre o governo Temer e o cenário político no programa “A crise em movimento”.
Fernando Schuler: “As pessoas sabem que a administração do Central Park é privada?”

O cientista político e professor do Insper Fernando Schüler falou ao Estado da Arte sobre o resultado das eleições municipais de 2016. Este é o momento de pensar na boa gestão que o setor público pode e deve oferecer à sociedade. Diante das críticas a propostas de modernização na administração municipal, Schüler questiona: “Será que as pessoas sabem que o Central Park, em Nova York, é gerido por uma organização privada? Que o mesmo acontece com o sistema de bibliotecas públicas da Big Apple, que funciona perfeitamente bem?”. Leia mais Originalmente publicado no Estadão/Estado da Arte em 07/10/16
Entrevista Na Real: “Fernando Schuler: o maior risco é ficar tudo como está”

Em busca de melhor compreensão da atual conjuntura e os possíveis cenários pós-julgamento do TSE, o programa na Real Na TV desta semana entrevistou o cientista político Fernando Schuler, professor do Insper. Clique aqui para assistir ao programa na íntegra
Entrevista Um Brasil: “Sociedade busca líderes fora da política tradicional”, diz Fernando Schüler

As investigações sobre corrupção envolvendo políticos e grandes empresas estão pondo em xeque o modelo de democracia que o Brasil escolheu quando promulgou a sua última Constituição, em 1988. Com isso, nomes não associados à política tradicional têm ganhado espaço e confiança da população para liderar o País, de acordo com o cientista político e curador do projeto Fronteiras do Pensamento, Fernando Schüler. Em entrevista ao UM BRASIL, realizada em parceria com o InfoMoney, Schüler diz que o financiamento empresarial de campanha eleitoral se mostrou um mecanismo que não trouxe benefícios à sociedade. “Em um sistema como esse, com financiamento empresarial de campanha, você induz os políticos a pedirem recursos para os empresários, evidentemente estabelecendo inúmeras trocas e negociações. O resultado não poderia ser bom. Tivemos três décadas com esse modelo e, agora, estamos passando a limpo”, diz Schüler, que também é professor do Insper. De acordo com ele, não só o Brasil, mas o mundo vive uma tendência de buscar líderes que não estão associados à política tradicional, como o prefeito de São Paulo, João Doria, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e alguns dos principais candidatos que disputam a eleição presidencial na França. Em razão das denúncias de corrupção e da crise de representatividade da sociedade em relação aos políticos, a discussão sobre a reforma política ganhou destaque nos últimos anos. Segundo Schüler, apesar desses problemas, a solução para a questão do financiamento de campanhas não deve ser encontrada no “afogadilho”. “Minha sugestão, acho que me parece mais razoável, é esperar um novo Congresso, uma nova liderança para o País e jogar esse debate para a sociedade”, afirma. Schüler também diz que os partidos políticos precisam entender que a população não vive no mundo ideologizado pregado por acadêmicos e, dessa forma, o debate não deve mais se tratar sobre se as ações são de direita ou de esquerda. Para as próximas eleições, o cientista político acredita que a sociedade tende a apoiar candidatos de posicionamento mais ao centro e menos marcados pela forma tradicional de se fazer política no País. “Duvido que a sociedade vai optar por uma liderança radicalizada. Um candidato que se apresente mais ao centro terá, em tese, mais aceitação”, diz. Clique aqui para assistir a entrevista na íntegra
Entrevista O Livre: “Não existe reforma da previdência com apoio popular”

Crise econômica sem precedentes. Um governo com baixa popularidade e sérias pendências na Justiça Eleitoral. Pessoas engalfinhando-se nas redes sociais pelos mais variados motivos. Políticos e empresários do primeiro escalão a engrossar as estatísticas do sistema carcerário. Motivos não faltam para enxergar o caos no Brasil de 2017. E é justamente em cenários assim, de posições extremadas, que o papel do intelectual e do analista político se torna ainda mais necessário. É o que afirma o cientista político, professor e doutor em filosofia Fernando Schuler, novo colaborador do LIVRE. Segundo ele, em tempos de “pós-verdade”, fatores como racionalidade, bom senso e estatísticas confiáveis nunca foram tão necessários. “Uma das primeiras tarefas do analista político é separar a sensação de caos do caos verdadeiro. Nós temos a impressão, por exemplo, de que a violência está aumentando, mas os dados mostram que ela vem caindo historicamente, com oscilações”, diz. Gaúcho, ex-secretário de Justiça e Desenvolvimento Social do governo do Rio Grande do Sul, Schuler vê em sua terra natal um exemplo claro da necessidade das polêmicas reformas propostas pelo governo de Michel Temer. “Hoje há incerteza no cenário político em relação a uma reforma que é absolutamente vital, inclusive para a manutenção dos direitos sociais, para que o Brasil não vire um Rio de Janeiro, um Rio Grande do Sul”, afirma. Sobre a impopularidade das medidas, especialmente em relação à Previdência, Schuler afirma que nunca esperou um contexto diferente. “Nunca se fez reforma da previdência com amplo consenso e sem uma boa dose de conflito social”. O país entra em 2017 com um presidente impopular e sob risco de cassação em meio à discussão de reformas polêmicas e crise econômica. É possível enxergar alguma luz no horizonte? O Brasil vive uma situação paradoxal. Temos boas e más notícias. Existem dois processos andando, paralelamente. Por um lado, uma agenda econômica de reformas sendo conduzida com grande dificuldade, que é basicamente o ajuste fiscal que o governo vem fazendo, a PEC que limita o gasto público, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e a liberação das terceirizações. São reformas importantes para a modernização da economia, que vão permitir mais agilidade e dinamismo para a gestão empresarial e beneficiar as pequenas empresas. A longo prazo, isso trará maior sustentabilidade fiscal, permitindo que o governo cumpra as suas obrigações sociais e faça investimentos. Estamos assistindo a uma ampliação do modelo de parcerias público privadas, como esse recente leilão de quatro aeroportos, mostrando que o Brasil recuperou um certo padrão de credibilidade internacional. O leilão apresentou um ágio muito significativo. O aeroporto de Porto Alegre chegou a 800% de sobrevalorização. Existem notícias positivas, ou seja: o governo vem acertando na área econômica. E o que seriam as más notícias, na sua opinião? O grande teste vem agora, com a reforma da Previdência. O governo foi bem-sucedido na PEC do controle de gastos públicos, mas precisa mostrar força agora na Previdência, pois o desafio é muito maior. São necessários 308 votos. É um tema delicado e que mexe com expectativas de milhões de pessoas. Os deputados sofrem pressão nas bases e as eleições são no ano que vem. E o governo vem recuando. Primeiro, em relação aos militares. Depois, as polícias militares e os bombeiros. Agora, os servidores estaduais e municipais. A pergunta que se faz hoje é: até onde o governo vai recuar? Existem vários pontos de dúvida: vai recuar sobre a igualdade entre homens e mulheres? Vai recuar no tema da assistência social? Vai recuar na idade mínima de 65 anos e flexibilizar as regras de transição? São perguntas no ar. Hoje diria que é muito difícil aprovar a reforma. O resultado da votação da lei de terceirizações mostrou que o governo tem uma certa dificuldade. Como não era uma Emenda Constitucional, mas uma lei ordinária, o governo conseguiu 231 votos, o que é muito distante dos 308 necessários para uma PEC. Há incerteza no cenário político em relação a uma reforma que é vital para a manutenção dos direitos sociais, a longo prazo. No fundo, estamos decidindo hoje se vamos assegurar para as próximas gerações os direitos inscritos na Constituição. Já houve manifestações significativas nas ruas e, em especial, nas redes sociais, com duras críticas às reformas propostas. Como o governo está se saindo na chamada batalha da comunicação? Ninguém imaginava que fosse possível aprovar uma reforma da Previdência com amplo apoio social. As pessoas não pensam com esse nível de racionalidade. Nenhum país do mundo fez reformas desse tipo com amplo consenso e sem uma boa dose de conflito social. E aí tem um lado positivo do governo Temer: talvez fosse necessário um governo impopular para fazer as reformas. Um governo preocupado com popularidade, às vésperas da eleição, jamais faria isso. O presidente Temer não tem expectativas eleitorais. Sabe que é um presidente impopular. A missão dele é com a história. E como avalia o desempenho do presidente nesta tarefa? Temer pensa no legado. É um homem de certa idade, faz um governo de transição que nasce de um impeachment, mas pode deixar um legado ao país, ao ajustar a economia e recuperar a credibilidade externa. A taxa de risco do país vem caindo e chegou ao nível pré-crise. A Petrobras recuperou uma parte do seu prestígio internacional, as ações recuperaram boa parte do valor, e o governo vem desempenhando bem o seu papel. O ponto é que o governo não tem como ganhar a guerra da comunicação. Não pode alimentar essa expectativa, pois não há como ganhar. O que o governo pode fazer é o que os cientistas políticos chamam de controle de dano, ou seja, não deixar que a oposição conquiste as ruas. Isso o governo vem conseguindo fazer, pois as manifestações contrárias à reforma da previdência ainda são basicamente restritas à militância sindical e partidária, setores do funcionalismo público e redes sociais. Mas não ganhou um contorno popular. Não há manifestações de massa. Enquanto isso não acontece, o governo vem lidando bem com o problema. Mas, para além das
O que é mais importante: eliminar a pobreza ou combater os mais ricos?
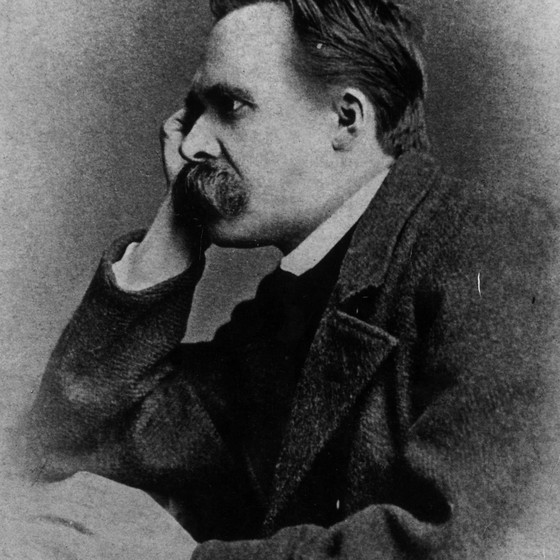
Publicado originalmente na revista Época Alguém aí está preocupado com o tamanho da conta bancaria de Jeff Bezos? Bezos é o criador e principal acionista da Amazon. De vez em quando eu adquiro um livro por lá. Leio um trecho grande que eles disponibilizam no site e, se achar bacana, vou lá e compro. Não dou a mínima para a posição de Bezos no ranking de bilionários globais. Suspeito que ele também não. Eu leio meu livro e ele ganha alguma coisa com isso. Estamos quites. O mesmo vale para um espanhol discreto chamado Amâncio Ortega. Filho de um ferroviário de Valladolid, Amâncio começou trabalhando como office-boy em La Coruña, aos quatorze anos. Nos anos setenta criou a Zara e fez uma pequena revolução no varejo, não isenta de altos e baixos. De vez em quando compro uma camisa por lá. Sorte de quem comprou ações da Zara, tempos atrás. A valorização foi de 580% entre 2008 e 2016. Para uns, a Zara trabalhou bem e muita gente investiu na empresa para ganhar algum dinheiro. Para outros, o capitalismo “concentrou” riqueza. Ortega e Bezos fazem parte da lista de oito bilionários que a ONG global Oxfam, em relatório recente, afirma possuírem uma riqueza equivalente à metade mais pobre dos seres humanos. Segundo a Oxfam, se trata de uma aberração. Talvez seja mesmo. Talvez o mundo fosse melhor sem essa turma de bilionários abrindo lojas reais e virtuais, vendendo livros, roupas e oferecendo ações no mercado. Talvez não. Vai que o problema esteja do outro lado da pirâmide. Na falta. É o que vamos discutir rapidamente a seguir. O relatório sustenta que o rendimento dos mais ricos, mundo afora, não é proporcional ao valor efetivamente adicionado à atividade econômica. Inútil perguntar como os técnicos da Oxfam fizeram esta conta. Não há, por óbvio, cálculo nenhum. Apenas uma colagem de notícias dispersas e narradas de um certa maneira. Elas vão desde a existência de paraísos fiscais, passando pela esperteza dos contadores que fazem planejamento tributário, privatizações russas, subsídios e isenções fiscais, políticas de austeridade, pela destruição de terras indígenas no Brasil até o lobby da indústria farmacêutica contra a Tailândia e a crise na indústria têxtil de Bangladesh. A colagem produz uma narrativa trágica do mundo atual. Um “sistema” ordenado para beneficiar o 1% mais rico e liderado por gente que sabe o que faz. A colagem também funciona para a estatística. O relatório diz que a riqueza dos 62 seres humanos mais ricos cresceu 45% entre 2010 e 2015, enquanto a metade mais pobre perdeu 38%. O mesmo gráfico, porém, mostra que, nos dez anos anteriores, a riqueza da metade mais pobre cresceu 3,5 vezes mais do que a conta bancaria dos 62 felizardos. O que isto significa? O capitalismo era bacana até o natal de 2010 e se tornou “obsceno a partir de 2011? Perfeita falácia estatística. Padrões de renda e crescimento econômico apresentam enormes variações de curto prazo, mas é possível perceber uma tendência ao longo do tempo. O relatório da Oxfam traz à tona mais uma vez uma das perguntas fundamentais da nossa época: devemos, como sociedade, priorizar a eliminação da pobreza ou o combate aos mais ricos? Alguém sempre poderá dizer que as duas respostas estão erradas. Que a prioridade deve ser bem mais modesta: preservar a liberdade, a igualdade diante da lei e não ficar imaginando coisas. É possível. Mas por ora deixo de lado essa alternativa e concedo que tenhamos que decidir sobre um conceito de “justiça social”. E há duas opções: a guerra aos ricos ou a guerra à pobreza. Os que optam pela guerra aos mais ricos não chegam a dizer, em regra, que os 50% da base da pirâmide está mais pobre porque um punhado de bilionários está enriquece demais. Mas essa é a sua mensagem. Trata-se de um exercício de correlação com uma vaga causalidade. Também não se explica em que consistiria uma “desigualdade razoável”. Vamos imaginar que a riqueza da metade mais pobre correspondesse à fortuna dos 800 mais ricos, ao invés de oito. Faria alguma diferença? Quem acha que a desigualdade é importante deveria definir essas coisas, dizer qual é, afinal de contas, a linha vermelha de assimetria de renda que não devemos cruzar. Ou quem sabe bastem apenas as impressões e intuições de quem escreve um relatório? Não sei. Fui em frente. Meu ponto: concentrar o foco de uma visão sobre a justiça social no combate à desigualdade ou aos mais ricos é simplesmente um erro. Entre 1990 e 2010 (o próprio relatório da Oxfam reconhece isto), a proporção de pessoas vivendo na extrema pobreza caiu de 36% para 16%. Houve um incremento da igualdade entre os países, ainda que um aumento da desigualdade de renda em países avançados como os Estados Unidos, França e Inglaterra, assim como na China e na Índia. A revolução tecnológica produziu ganhos assimétricos. Os muito ricos ganharam, mas ganhou também uma enorme e multiforme camada de trabalhadores pobres do mundo em desenvolvimento. É o caso da ascensão da chamada “classe C”, no Brasil. Nada muito diferente do que ocorreu na maioria dos países latino-americanos. A própria ONU identificou o equívoco da “narrativa da desigualdade”. Eliminar a pobreza extrema do planeta até 2030 é a primeira de suas “metas para o desenvolvimento sustentável”, lançadas em 2015. A ONU acertou o foco. Ninguém daria a mínima para a desigualdade se não fosse a existência da pobreza. Este é o ponto enfatizado pelo filósofo Harry Frankfurt, professor em Princeton e autor de On Inequality. Não há um problema ético na distância que separa a renda da classe média bem estabelecida e dos mais ricos. Se todos tivessem o suficiente, ninguém daria atenção ao valor das ações de Amâncio Ortega no pregão de segunda-feira. O ponto é que errar o foco em um tema delicado como este acaba por produzir imensos equívocos na formulação de políticas públicas. No Brasil a carga tributária alcançou 32,7% do PIB em 2015. Será mesmo que nosso problema é aumentar
Entrevista: Fernando Schüler: “As pessoas sabem que a administração do Central Park é privada?”

O cientista político e professor do Insper Fernando Schüler falou ao Estado da Arte sobre o resultado das eleições municipais de 2016. Mais do que avaliar o desempenho trágico do maior partido da esquerda brasileira, o PT, para Schüler, este é o momento de pensar na boa gestão que o setor público pode e deve oferecer à sociedade. Diante das críticas a propostas de modernização na administração municipal, Schüler questiona: “Será que as pessoas sabem que o Central Park, em Nova York, é gerido por uma organização privada? Que o mesmo acontece com o sistema de bibliotecas públicas da Big Apple, que funciona perfeitamente bem?”. O PT sofreu uma derrota eleitoral acachapante neste domingo. Até o momento, no entanto, não houve sinal de autocrítica ou de mudança de estratégia política. O PT consegue se recuperar eleitoralmente sem mudar de discurso? Não vejo sinais de que o PT mudará seu discurso, nem sua forma de agir. Esta semana mesmo seus deputados já estavam lá, com a habitual “estética da certeza”, dedo em riste, atacando a PEC 241, do controle do gasto público, no Congresso. É curioso ver como os argumentos de hoje são semelhantes aos que o partido usava para se opor à Lei da Responsabilidade Fiscal, em 2000. Depois se mostrou arrependido, mas agora faz tudo de novo. É um problema de DNA. Faria bem ao Brasil ter uma esquerda moderna, como teve o Chile, a Nova Zelândia e tantos países europeus. Infelizmente, não acho que será o caso do PT. O PT tem o vezo da velha esquerda latino-americana e sua incapacidade de entender uma economia moderna. Fazer o quê? Quanto ao sucesso eleitoral, tudo é possível. Mas intuo que o PT tende a se transformar em um partido de lideranças regionais, de menor porte, e dificilmente voltará a ser um partido com um projeto nacional. A sociedade virou esta página. Fernando Haddad (PT) foi identificado por uma parcela do eleitorado como um prefeito moderno, especialmente por suas pautas de mobilidade urbana. João Doria (PSDB) se elegeu prefeito da cidade no primeiro turno com um outro tipo de discurso moderno: o discurso do gestor, que assumiu a bandeira da privatização e das parcerias com a iniciativa privada. Para que projeto de modernização caminha São Paulo? Confesso ter uma boa impressão de Fernando Haddad. Ele foi corajoso ao legalizar os aplicativos de transporte urbano, em São Paulo, e acertou no tema das ciclovias. Isto não quer dizer que fez uma ótima gestão. Ele falhou no tema da modernização da administração municipal. Exemplo disso foi o erro de regulação da OS, no Teatro Municipal. Acho que Haddad deveria aproveitar este período pós-prefeitura para ir ao exterior, fazer um período sabático, renovar as ideias. Ele tem uma contribuição grande a dar. Quanto ao Doria, penso que ele é o primeiro grande político brasileiro a apresentar um discurso político claramente moderno, em termos de gestão. Falou de privatizações, sem medo, e assumiu sua condição de empresário empreendedor. É um político pós-ideológico, de tipo pragmático, que lembra muito o Michael Bloomberg, ex-prefeito de Nova York. Ele é a expressão da São Paulo contemporânea, globalizada. Tem tudo para fazer uma ótima gestão. O PSDB perdeu o medo das privatizações? Penso que é a sociedade como um todo que está mais aberta a este tema. Mas é preciso considerar o seguinte: o Brasil não é São Paulo. São Paulo possui apenas 15% da mão de obra vinculada ao setor público. Há 15 capitais brasileiras com cerca de 30% ou mais de funcionários públicos na força de trabalho. Na minha cidade de origem, Porto Alegre, a venda de um terreno público, via leilão, ou a concessão do cais do Porto ou a construção de um presídio em PPP gera uma comoção pública. Parte da sociedade brasileira ainda confunde o “público” com o “estatal”. As corporações, no Brasil, têm sido muito hábeis em apresentar sua própria agenda como uma pauta da sociedade. Então o “ensino público” é compreendido como “ensino estatal”. E há gente que ainda acredita que estamos “entregando nosso petróleo” quando votamos um modelo de concessão da exploração do pré-sal no Congresso. Meu ponto é: ainda somos uma sociedade estamental, em boa medida, e o sistema partidário reflete essa cultura. Mas as coisas estão mudando. Quanto ao PSDB, vamos lembrar que foi o partido que conduziu o maior programa de privatizações do país, nos anos 90. E conduziu bem, diga-se de passagem. Intuo que em 2018 esse tema estará novamente no centro do debate eleitoral. Que autonomia tem a administração municipal para fazer uma gestão diferente da máquina pública? É possível introduzir novos regimes de contratação ou de avaliação de desempenho no serviço público municipal? Sem dúvida. Há muitas experiências exitosas de introdução de meritocracia, no setor público. As pessoas não se dão conta, mas em 2015 o Governo do Estado de São Paulo pagou R$ 1 bilhão em bônus por desempenho para mais de 230 mil professores. Estados como Espírito Santo e Pernambuco têm experiências exitosas, nesta direção. Não tenho dúvidas de que Doria irá por este caminho. E sugiro que ele comece rápido. Quanto à contratualização, é evidente que este é o caminho. Um exemplo: Doria acabou de anunciar que irá conceder a gestão do Parque do Ibirapuera à iniciativa privada. Teve gente que não gostou. Mas será que as pessoas sabem que o Central Park, em Nova York, é gerido por uma organização privada? Que o mesmo acontece com o sistema de bibliotecas públicas da Big Apple, que funciona perfeitamente bem? As pessoas sabem que, no Brasil, modelos de contratualização são adotados na OSESP, na Pinacoteca do Estado, no Hospital Sara Kubitschek, no IMPA, no Hospital do Câncer do Estado de São Paulo, com grande sucesso? Outra coisa: qual é o sentido de uma cidade como São Paulo administrar um autódromo? Ou um estádio de futebol? O Estado precisa escolher prioridades e focar sua atuação naquilo que ele realmente precisa fazer, e fazer bem feito. Criar ambiente atrativo para novos negócios, por
Entrevista Revista Bons Fluídos

Entrevista publicada na revista Bons Fluídos BF: Há espaço para o pensar no cotidiano das pessoas nesses tempos em que o exibir-se parece ser o motor do comportamento? FS: De um modo geral, é esta a idéia do Fronteiras do Pensamento: que as pessoas parem um pouco, desliguem os celulares e pratiquem a antiga arte de escutar e refletir. O físico Geoffrey West, em sua palestra, no próprio Fronteiras, observou que nas grandes metrópoles as pessoas caminham mais rápido. Diria que elas fazem muitas coisas mais rápido. A tecnologia e a sociedade da informação criou um mundo excitante (do qual não desejamos abrir mão, diga-se de passagem). O ponto é que em meio à excitação generalizada temos a sensação de que perdemos alguma coisa. Então é verdade que almoçamos mais rápido, todos os dias, mas vemos crescer um movimento como o slow food. Passamos correndo pela academia, mas cresce o número de pessoas que pratica a meditação. O Fronteiras não deixa de ser uma espécie de exercício slow food do pensamento. Logicamente, não basta assistir a uma conferência. Mas ela pode ser um convite para que as pessoas possam ler e descobrir coisas novas. Repito: nós gostamos de viver neste mundo da hiperinformação. Gostamos do frenesi das redes sociais. O facebook de certo modo realizou a profecia de Andy Wahrol. Cada um tem lá seus 15 minutos de fama, todos os dias, em uma comunidade que escolheu. O problema é que não conseguimos viver o tempo todo como personagens. Vez por outra desejamos nos retirar para dentro de nós mesmos, mesmo que isto seja difícil. Precisamos de um pouco de solidão, do pensamento lento. E ai a filosofia cumpre uma função. Aliás, sempre cumpriu, nós é que por vezes nos perdemos por aí, correndo de um lado para o outro. BF: O que é espiritualidade para você? Como você se relaciona com essa dimensão da existência? FS: Sou luterano. Há um elemento muito pessoal aí, e há o que vejo como pertencer a uma tradição de respeito ao indivíduo e à razoabilidade. O luteranismo nasceu no início do século XVI, quando Lutero se opôs à autoridade da igreja e do Estado, em nome da liberdade de consciência e religião. Lutero foi proscrito, perseguido, mas de certo modo recolocou o cristianismo em sua acepção mais original. Uma igreja sem hierarquias, feita por comunidades, que aproxima as pessoas de uma relação íntima com Deus. Como muitas religiões tradicionais, também o luteranismo perdeu, ao longo do tempo, muito de sua força espiritual. Trata-se de uma forma branda de espiritualidade, como é a marca da religiosidade na cultura contemporânea. BF: Nos dias de hoje, a espiritualidade tem se inclinado em qual direção? FS: Obviamente, sob o rótulo da espiritualidade se encontram os mais diversos tipos de crenças e formas culturais. Mas palavras não são inocentes. Já nos diz alguma coisa pensar que migramos de uma cultura fundada na religião, para uma época pautada pela “espiritualidade”. Há uma história que dá sentido a esta transição. Nosso mundo é marcado pelo que Moisés Naim chama de “revolução do mais”: o aumento da escolaridade, da informação, o avanço da ciência e a penetração desta em esferas da vida inimagináveis até 80 anos atrás. Tudo isso produziu um lento processo de laicização da cultura. E aqui me refiro aos países ocidentais. Isso não irá eliminar a religião, mas alterar seu significado. As pessoas tendem, progressivamente, a praticar formas mais amenas de religiosidade. Mas abertas, tolerantes e ecumênicas. Não é por acaso que temos hoje um Papa ecumênico, cuja mensagem é menos doutrinaria e mais espiritual. Uma personalidade cujo fascínio atingiu pessoas muito distantes do catolicismo. Somos de um tempo em que a religião, de um modo geral, deixa de servir como fundamento da moralidade. Deus é citado como uma alegoria, em nossa constituição, e os crucifixos são retirados das escolas públicas. Mas a fé renasce em formas mais suaves, e isso diz respeito ao que chamamos de espiritualidade. Um universo panteísta em que cresce o interesse pelas religiões orientais, pelas práticas mediúnicas e por uma miríade de crendices que por vezes se confundem com a autoajuda. Um universo que convive bem com as religiões mais tradicinais e de certo modo incorpora a superficialidade da nossa época. O sujeito faz um curso de dez dias e, no final, conversa com espíritos, lê os chakras e, logo mais, vai atender como terapeuta holístico. O conhecimento científico vale muito pouco aí, se é que importa alguma coisa. Importante é “curtir”, e analogia com as redes sociais não é fortuita. Somos menos rigorosos, levamos menos a sério e temos menos dramas de consciência. Não digo que haja algo errado ai, ou que o passado tenha sido melhor. Apenas observo que ninguém procura um terapeuta holístico ou um curandeiro, quando tem um problema de saúde realmente sério. BF: Viveríamos uma espécie de “pós-modernidade” religiosa? FS: Sem dúvida, no ocidente, uma época de maior liberdade. E de um certo elemento pragmático. Elemento pragmático quer dizer: a religião consola, espanta os meus medos, me ajuda a viver. É isto que importa. Uma boa forma de explicar isto seria dizer que a contemporaneidade resolveu o antigo dilema pascalino. Pascal se perguntou se era melhor viver apostando que deus existe, ou o contrário. Haveria custos e benefícios em qualquer das alternativas. O pior custo, obviamente, era viver como um ateu e, no fim, descobrir que Deus existia. Por outro lado, o custo de viver como um cristão era relativamente baixo, e no fim teríamos perdido pouca coisa, se nada daquilo se revelasse verdadeiro. Diria que o “espiritualismo” contemporâneo resolveu bem isto. A chave é a tolerância. A religiosidade incorporou a cultura da sociedade de direitos. O custo de praticar alguma forma de religiosidade é baixo e pouca gente parece efetivamente preocupada com o fogo do inferno. Evidentemente, isto não funciona se você pertencer a uma seita fundamentalista, ou viver em um estado teocrático, sob a charia, por exemplo. Mas este não deve ser o caso

