A esquerda precisa fazer as pazes com a economia

Demétrio Magnoli escreveu um artigo, dias desses, sugerindo que a presidente Dilma aproveite o tempo livre pós- impeachment para refletir sobre seus erros. A sugestão é boa. A primavera logo chega, e nada melhor do que pedalar à beira do Guaíba, em Porto Alegre, refletindo sobre os próprios equívocos. Já fiz coisa parecida, confesso, no pior do inverno gaúcho. Não creio, porém, que Dilma fará nada disso. É uma mulher de muitas certezas, como aliás parecem ser as pessoas que a cercam. Pessoas que lhe entregam flores, por onde chega, que carregam sua imagem de guerrilheira, ainda jovem, à frente de um inquérito militar. E tem o Chico a lhe dar razão, não é mesmo? Por que ela faria autocrítica? Alguém que resistiu à tortura e superou uma doença difícil? Nem pensar. Se alguma coisa deu errada no seu governo, não foi culpa dela. Seu novo mantra já está definido: voltaremos. Dilma voltará como um personagem secundário nos livros de história. Na política real, é carta fora do baralho. A questão que me parece relevante diz respeito ao destino do PT. O partido prosseguirá relevante na política brasileira? Ninguém tem boa de cristal para saber se Lula irá ou não sobreviver à Lava Jato. Lula tenta derrotar a justiça e o Juiz Sérgio Moro fazendo política. É possível que vença a parada. Se vencer, o PT ainda terá o maior líder político do País. Se perder, o PT sofrerá uma diáspora de quadros, mas ainda será um partido relevante no contexto da esquerda brasileira. A pergunta correta a fazer, é: O PT reconhecerá os seus erros? De um modo mais amplo, a esquerda brasileira é capaz de revisar posições e se reinventar? Ok, estamos muito em cima dos fatos, há cicatrizes, ninguém gosta de perder o poder assim desse jeito. A turma quebrou umas paradas de ônibus, na Paulista, depredou a sede do PMDB, em Porto Alegre, chamou todo mundo de golpista, canalhas e outras mesmices. Mas depois que a raiva passar, a esquerda vai mudar o disco e fazer uma autocrítica? Será capaz de se reinventar? Acho que isto seria ótimo para a própria esquerda, para o PT, e principalmente para nossa democracia. Mas não acredito, infelizmente. Estamos falando de pessoas treinadas para entender a verdade como um “campo de luta”. Como coisa que se “constrói”. Falamos de gente que anda do lado certo da história, para quem a dúvida é uma forma por vezes sutis de traição. De qualquer modo, me arrisco a dar algumas sugestões. Uma delas é o pessoal aproveitar o tempo livre e prestar atenção a coisas novas que andam sendo ditas neste Brasil cansado de passado. Uma delas li em um belo artigo do Professor Celso de Barros, do IPEA, dias atrás. Sua tese é a de que o PT e a esquerda devem fazer as pazes com a economia. Se a ideia é dar a volta por cima e algum dia voltar ao poder, é preciso que a esquerda faça uma ampla revisão de sua visão sobre a economia de mercado e como se nela se encaixa os interesses dos mais pobres. Barros parece acreditar que é possível abrir a cabeça da esquerda. Convence-la de que não é a negação da racionalidade econômica que define o sentido de uma esquerda contemporânea. Que ela se define justamente por compatibilizar a racionalidade econômica com políticas de “distribuição de renda e oportunidades”. Barros sugere uma visão “agnóstica” sobre política econômica: “o que funcionar, funcionou”. Diz que responsabilidade fiscal deveria ser um valor especialmente caro para quem quer um estado forte e ativo. Sugere abandonar a aversão congênita à privatização e outras bobagens. Como a ideia de achar que toda política de austeridade é sempre contra os mais pobres, ou que todo aumento de juros é sempre uma concessão ao “rentismo”. A tentativa de sofisticar um pouco a esquerda é generosa, mas não imagino que produza resultados. Não consigo imaginar um congresso do PT aprovando resoluções sobre “manter o equilíbrio das contas públicas, corrigir o déficit estrutural da previdência, oferecer previsibilidade ao mercado, inflação no centro da meta” e coisas assim. Seria ótimo para nossa democracia ter uma esquerda desse calibre. Em alguma medida, ela existe, muito tímida, espalhada pelo PSDB, PMDB, PPS, PSB, REDE. O ponto é que ela é minoritária no petismo e seus aliados. Ideias desse tipo estiveram presentes na equipe econômica do Ministro Palocci, no primeiro governo Lula. Equipe de alto padrão, afinada com o que se poderia esperar de uma esquerda moderna. O ponto é que vivíamos uma época especial. Um ciclo de expansão da economia global, boom das commodites, com os frutos de um País que havia passado pelo ciclo de reformas dos anos 90. O PT e sua base sindical toparia uma política de rigor fiscal em tempos difíceis? As evidências não parecem favorecer muito esta hipótese. Se a esquerda quiser de fato se reinventar, dou uma sugestão: invistam algum tempo, de cabeça aberta, observando a experiência internacional. Vejam onde isto aconteceu. Há exemplos por toda parte. Em todos eles há o elemento “agnóstico”. A capacidade de dar um chega pra lá na ortodoxia e observar o mundo a partir de dados, evidências e boa dose de bom senso. Observem, por exemplo, o que aconteceu com a esquerda chilena, sob a liderança de Ricardo Lagos e sua Concertación. Lagos consolidou a democracia chilena ao mesmo tempo que soube preservar as conquistas da liberalização econômica, tornando o Chile um raro caso de sucesso econômico na América Latina; observem Vaclav Ravel, o poeta-estadista do Lanterna Mágica, no coração de Praga, com sua revolução de veludo e a formação da República Tcheca; observem ainda Mandela e sua imensa capacidade de esquecer. De construir consensos onde só se imaginava lugar para o de revanchismo. E de mudar, adotando uma visão liberal da economia que ajudou a África do Sul a crescer aceleradamente nos anos pós-apartheid. Acertar as contas com a economia, porém, é a apenas uma parte do caminho para uma nova esquerda.
Lula em quatro estações

Em abril de 2009 Lula era “o cara”, o político mais popular do planeta, na frase de Barack Obama em uma reunião londrina do G20. Obama estava certo. Nos dois anos que se seguiram, Lula atinge a consagração política. A revista Time o escolhe o líder mais influente do mundo e ele conclui o governo com 83% de aprovação. Passados alguns anos, as coisas mudaram. Uma densa neblina paira sobre sua biografia. Seu legado é posto em cheque, e o futuro incerto. Defini-lo, longe da paixão dos dias, é tarefa para os historiadores. Mas vale tentar capturar suas mutações, ao longo do tempo. Com algum risco e leveza, tentar contar a história de Lula em suas quatro estações. Primeira estação A história de Lula diz muito da saga brasileira no século XX. O filho do sertanejo que sai de Caetés, no interior de Pernambuco, rumo ao litoral paulista com a mãe, Dona Lindu, mais oito irmãos. História de desalento e da vida que se renova. Do guri que cuida da vida, na Vila Carioca, que engraxa sapato e vende tapioca. E que um dia dá a virada. Vai cursar o Senai. Vira torneiro mecânico. O especialista da família. E vai trabalhar como metalúrgico no ABC. Lula podia ter feito carreira na fábrica e tocado sua vida operária, mas no final dos anos 60 começa a frequentar o sindicato. Diz-se que foi pela mão do irmão, Frei Chico, então ligado ao partido comunista. À época trabalha na Aços Villares. Não é um tipo ideológico, nem ligado à política. Faz carreira por dentro da máquina sindical oficial. Em 1972, recusa concorrer à presidência do sindicato pela oposição. Prefere ficar ao lado de Paulo Vidal, o presidente consentido pela estrutura de poder. É eleito primeiro secretário e responsável pela caixa de aposentadoria. Devagarinho vai virando o Lula, o cara boa praça que joga bola e bebe com a peonada. Um dia aparece lá no sindicato uma moça bonita com um filho para criar. É Marisa Letícia, a galega, viúva de um motorista de taxi de São Bernardo. Será a mulher de Lula durante 42 anos, até sofrer um AVC e falecer no inicio deste ano. Lula soube se reinventar, após 1975, quando assume a presidência do Sindicato. Com seis meses de mandato, faz uma viagem ao Japão e na volta fica sabendo da prisão de Frei Chico. Anos depois, Lula dirá que aquele foi um momento de virada. Diz que perdeu o medo. Acrescentou um elemento político a seu discurso. O fato é que os três anos que se seguiram mudaram não apenas a trajetória de Lula, mas do sindicalismo brasileiro. Foram três campanhas salariais, nos meses de maio de 1978, 79 e 80. Em 1979 Lula permanece preso por 31 dias, período no qual lhe é permitido visitar a mãe, no hospital, e logo ir a seu enterro. A prisão é um ponto de inflexão. Acrescenta um elemento dramático a sua trajetória e afirma a independência do chamado “novo sindicalismo”. Lula completa sua primeira estação. As imagens da massa operária em silêncio, no estádio de Vila Euclides, sob a batuta mágica do filho de Dona Lindu, haviam criado o mito. O Lula da primeira estação emerge no contexto do divórcio entre Estado e sociedade produzida pelos militares, no Brasil dos anos 60 e 70. O ciclo militar fez da estrutura sindical brasileira uma máquina burocrática distante da tradicional influência dos comunistas e trabalhistas. Lula não carrega a “herança de 68”, nem recebeu formação teórica de esquerda. Ele surge no espaço vazio, “por dentro” e ao mesmo tempo crítico do sindicalismo oficial e do imposto sindical, defendendo uma relação ganha-ganha entre capital e trabalho. Em 1978 ainda chama o golpe de 64 de “revolução” e critica o velho movimento sindical por fazer muita politicagem. Critica os intelectuais e diz que os estudantes “serão os patrões de amanhã”. Lula é o líder que convida o governador arenista Paulo Egydio para sua posse, que negocia com o governo e conversa de igual para igual com a elite empresarial. É respeitado pelo sistema e surge, aos olhos dos arquitetos da transição, como uma liderança alternativa ao Brizolismo. Segunda estação No final dos anos 70, Lula lidera o movimento de criação do PT. No mês de julho de 1978, em um encontro de petroleiros na Bahia, diz que “havia chegado a hora” dos trabalhadores formarem seu próprio partido. Lula é intuitivo. O País vivia tempos de abertura, a campanha pela anistia tomava corpo e se anunciava a reforma partidária. Lula percebeu o espaço para a formação de um novo partido. Sua base? Não apenas a liderança do novo sindicalismo mas um leque difuso de grupos marxistas, intelectuais acadêmicos, comunidades de base da igreja, movimentos comunitários e de estudantes. Depois de uma década e meia de poder militar, era brutal a hegemonia da esquerda nas universidades e na sociedade civil brasileira. O ciclo militar estigmatizaria por muito tempo a ideia de uma “direita” política. Antônio Candido, em seu Direito à literatura, de 1988, registra o fenômeno, observando ser raro, naqueles anos, encontrar algum político ou empresário que arriscasse se definir como conservador. E arremata: são todos “invariavelmente de centro, até de centro-esquerda, inclusive os francamente reacionários”. Lula percebe o momento. É sua segunda estação. Antes crítico da politização dos sindicatos, Lula lidera a tomada da máquina sindical pela esquerda; avesso à partidarização do movimento social, torna-se ele mesmo seu protagonista; cético com o movimento estudantil, surge como sua referência. De um líder pragmático e aberto ao diálogo capital-trabalho, submerge à lógica fácil do “conflito de classes” e à retórica difusa da “construção do socialismo”. O PT da primeira década usou e abusou da palavra “socialismo”, que depois morreu à mingua. Na vida real, seu foco sempre foi a ocupação de estruturas de poder. A máquina, o sindicato, o imposto, o diretório, o parlamento, o governo. Um tipo particular de patrimonialismo regado a ideologia e grandes palavras. Os documentos do partido falavam em “estatizar os bancos” e “romper
O Brasil precisa aprender a fazer escolhas difíceis

O ex-Presidente Fernando Henrique afirmou, dias atrás, que o Brasil precisa de uma nova onda de privatizações. “O que puder privatizar, privatiza”, disse FH, “ou você terá outro assalto ao Estado por parte dos setores políticos e corporativos”. O diagnóstico deixou muita gente surpresa. Na algazarra das redes sociais, Fernando Henrique costuma ser tratado como um teimoso social democrata, avesso a reformas de mercado e à retórica liberalizante. Injustiça. Em seu governo, o ex-Presidente estabilizou a economia e comandou um amplo programa de privatizações. Mas isto são aguas passadas. Seu diagnóstico é para hoje. Seu foco é apontar um dos tantos caminhos que o País terá de trilhar se quiser sair desta crise, lá adiante, melhor do que entrou. O raciocínio de FH é simples: quanto mais áreas da economia funcionarem sob a logica do mercado político, mais incentivo existirá para sua “captura” – por vias legais ou ilegais. Na prática: se há boa chance de obter um financiamento a juros subsidiados no BNDES por que as empresas buscariam competitividade no mercado de crédito privado? O mesmo vale para temas de regulação e política fiscal. Os economistas Marcelo Curado e Thiago Curado conduziram um estudo mostrando que as isenções fiscais (envolvendo incentivos para a indústria automobilística, Zona Franca de Manaus e uma enorme gama de benefícios setoriais) saltaram de R$ 24 bilhões para R$ 218 bilhões entre 2004 e 2013. Ao invés de optar por um modelo de impostos baixos e igualdade diante da lei, escolhemos o caminho inverso: carga tributária alta e alocação desigual, segundo a capacidade de pressão de cada setor econômico. Curiosa lógica tropical: oneração fiscal para todos e desoneração para muitos, de acordo com critérios e regras frequentemente difíceis de compreender. A mesma lógica invade o sistema político. Exemplo perfeito é o curioso sistema de fatiamento do orçamento federal com base nas chamadas “emendas parlamentares”. Cada parlamentar pode apresentar até 25 “emendas individuais,” no valor total de R$ 15,3 milhões (ano base 2017). Os recursos vão para as regiões e prefeituras da base eleitoral do parlamentar. Servem como moeda eleitoral e criam uma enorme vantagem competitiva para os candidatos detentores de mandatos. Geram desigualdade eleitoral e dificultam a renovação política. O Governo, por sua vez, dita o ritmo da liberação das emendas conforme sua conveniência política. Patrimonialismo em dose dupla: do deputado em relação a sua base política e do governo em relação ao parlamento. O custo, como de hábito, vai para o contribuinte. O País apostou, desde o processo de redemocratização, em uma combinação explosiva: um Estado grande e interventor, com ampla capacidade de alocação discricionária de recursos, e um sistema de financiamento empresarial de campanhas. Durante décadas, incentivamos nossos candidatos, de vereador a presidente, a sentar em uma mesa e pedir dinheiro aos mesmos empresários que logo ali à frente concorreriam para administrar um sistema de abastecimento de agua, no município, ou fariam lobby, no Congresso, para obter um regime fiscal especial. Um modelo fadado a produzir os resultados que ora estamos colhendo O problema foi, em parte, corrigido em 2015, quando o STF proibiu o financiamento empresarial de campanhas. Tratou-se da face mais simples do problema, e em grande medida ilusória. Empresários podem fazer contribuições na “pessoa física”, para não falar da praga do caixa dois. A questão central é enfrentar o lado mais difícil do problema: diminuir a vulnerabilidade do Estado brasileiro à pressão dos interesses especiais. À lógica das corporações, do lobby empresarial e do próprio sistema político. Para que isto aconteça, não há outra saída: o Estado precisa diminuir de tamanho. Fernando Henrique tem razão, neste sentido. É preciso transferir os recursos do FGTS para gestão privada e concorrencial; privatizar as empresas que produzam bens e serviços de mercado; migrar o sistema previdenciário para modelos de capitalização; contratualizar a prestação de serviços públicos não exclusivos de Estado com o setor privado (como já se faz com as organizações sociais da saúde); fechar velhas autarquias e fundações estatais criadas no período anterior à Constituição e que hoje perderam relevância social e econômica. Há uma extensa agenda aí. Uma agenda de desestatização da sociedade e despatrimonialização do sistema político. Sua execução exige clareza e liderança política. Exige mais: um novo “consenso majoritário” da sociedade voltado à modernização do Estado. Algo da mesma dimensão que soubemos produzir, nos anos 80, em torno da redemocratização do País. Não se trata de tarefa simples. Fazer escolhas difíceis nunca foi uma especialidade brasileira. Ainda sofremos para flexibilizar regras de uma lei trabalhista feita nos anos quarenta e para fixar uma idade mínima para a previdência que países como Chile e Argentina há muito estabeleceram. Nosso maior risco, no fundo, é a inércia. Ver o tempo passar, jogar fora o esforço feito com a aprovação da PEC do gasto público, assistir o custo previdenciário corroer lentamente as contas públicas. Tropeçar na armadilha da renda média e das velhas ilusões. Envelhecer, quase sem notar, antes mesmo de nos tornarmos jovens. Fernando Schuler é cientista político e professor do Insper
O mal-estar da democracia

Um espectro ronda a democracia. A confiança nos valores e instituições democráticos vem declinando, década a década. De acordo com o World values survey, apenas 30% da geração millenial (nascidos após 1980), nos Estados Unidos, acha que é “essencial” viver em uma democracia, contra 58% da geração baby boomer, nascida no pós-guerra. Mais recentemente, entre 1995 e 2011, saltou de 16% para 24% o percentual de jovens que consideram a democracia simplesmente um “sistema ruim”. No Brasil, há sinais na mesma direção. A série de pesquisas conduzidas pelo professor José Álvaro Moisés, da Universidade de São Paulo, mostra que, entre 2006 e 2014, caiu de 19% para 14% o grau de confiança das pessoas nos partidos políticos e cresceu de 15% para 20% a aprovação da ditadura. Diante desses dados, o primeiro desafio é evitar a tentação das respostas simples a problemas complexos. O mundo viveu uma fase de euforia democrática no final do século passado. Seria, no mínimo, ingênuo imaginar que tudo se perdeu no espaço de pouco mais de uma década. A Freedom House identificou um declínio da democracia nos últimos 11 anos. O relatório de 2017 fala da emergência de velhos nacionalismos e da ameaça populista. Fenômenos como Trump, Marine le Pen ou o Brexit seriam bons exemplos desse recuo. Lugar-comum. Quando a velha Inglaterra faz um plebiscito para decidir se permanece ou não na União Europeia, o que ela faz é dar uma aula de democracia, não o contrário. Você pode não concordar com o eleitorado inglês. Eu também posso, o que é inteiramente irrelevante. O ponto é que a democracia não pode ser julgada por nosso eventual desacordo com as escolhas que as pessoas fazem. Governos populistas e arroubos nacionalistas são produtos típicos da democracia, não sua negação. A ideia de que a democracia produziria sempre decisões condizentes com uma visão de mundo cosmopolita não passa de uma quimera. Há uma interpretação otimista para o mal-estar da democracia. Ela diz que não há uma crise em seus valores, mas a emergência do “cidadão crítico”. Vivemos em um mundo mais urbano, com mais informação e renda. O mercado incorporou rapidamente os ganhos da revolução tecnológica, e o Estado não. Além disso, o Estado cresceu demais, a linguagem política envelheceu e as pessoas se distanciaram da política tradicional. O cidadão ganhou poder, cobra eficiência dos governos e é menos tolerante com a corrupção. Por óbvio, há aí o efeito breaking news, na expressão de Fareed Zakaria. Ele é dado pela contradição entre o mundo que nos aparece, dia a dia, hora a hora, no espaço digital, e o universo opaco da realidade. Nós achamos que a violência aumenta, mas os dados mostram que ela diminui; achamos que a pobreza cresce, mas a estatística diz o contrário. Neste universo de cidadãos crescentemente desconfiados das instituições, há uma explosão de ativismo em rede, multiforme e “fora de controle”. Vivemos a época dos “cidadãos ativos”, para usar uma expressão cara a John S. Mill. E isso tem um preço. Vai aí meu ponto: a democracia, nesta década incerta, não vive uma crise, mas um tempo de exuberância, que desaloja velhos partidos e lideranças, gera instabilidade e aumenta o custo do consenso. Daí o mal-estar. Vale observar o que se passa com a representação política. Instituições e elites políticas, na democracia liberal, funcionavam como filtros e freios para a opinião caótica dos cidadãos. Era o papel dos partidos, do Parlamento e mesmo da imprensa profissional. A revolução tecnológica subitamente envelheceu essas instituições. As pessoas descobriram que são capazes de atuar diretamente no mercado político. As instituições não estavam preparadas para lidar com a revolução digital do mesmo jeito que a velha democracia censitária não estava para lidar com a sociedade industrial emergente da virada para o século XX. A democracia vive um tempo de “destruição criadora”. O que resultará disso tudo? Difícil dizer. Por certo teremos cada vez mais uma “democracia vigiada”. Ainda me lembro de um texto de Norberto Bobbio, dos anos 1970, sobre “as promessas não cumpridas da democracia”. Uma delas dizia respeito ao “poder transparente”. Certo à época, Bobbio estaria errado agora. Os meios eletrônicos e a explosão da mídia tornarão o poder cada vez mais transparente. Não sei o que as pessoas farão com toda essa informação. Provavelmente vão vociferar e emitir juízos sumários nas redes sociais. Isso tornará cada vez mais difícil a vida do homem público. Sua vida privada virtualmente desaparecerá. Seu passado será esquadrinhado e tornado um eterno presente. Perderemos a capacidade de esquecer, essa “condição da vida”, como sugeriu Nietzsche, que nos permite reconciliar, levantar a cabeça e seguir em frente. O futuro da democracia, diferentemente do que acreditava Bobbio, está não em sua penetração em mais e mais espaços da vida social, mas precisamente em sua contenção. A revolução tecnológica e o crescimento econômico deram poder ao indivíduo, e é possível pensar que as pessoas hoje demandem menos tutela do Estado e mais espaço para fazer escolhas. É este o trade-off contemporâneo: o recuo da fúria reguladora da escolha pública em troca de mais espaço para a liberdade dos indivíduos. É disso que trata a reforma trabalhista quando fala em fazer valer o “negociado” antes do “legislado” ou quando se pede o fim do imposto sindical. É este o cenário mais amplo das novas formas da economia do compartilhamento: a autorregulação pelos usuários ocupa gradativamente o espaço antes restrito à burocracia pública. Não faltará quem diga que tudo não passa de um processo de deslegitimação da política. Do retorno a um tipo de democracia conservadora. É possível. Quem sabe devamos voltar a Edmund Burke e lembrar que a boa democracia é precisamente aquela que sabe manter sob controle seus desatinos. Os próximos anos assistirão a uma suave transição. Uma queda de braço entre novas tecnologias e velhas instituições. Entre um leviatã grande e intrometido e o cidadão crescentemente dono de si mesmo. Não tenho muitas dúvidas sobre quem ganhará o jogo.
A miséria do debate sobre as privatizações

Publicado originalmente na revista Época Enquanto em São Paulo o prefeito João Dória anuncia o “maior projeto de privatização” do Brasil e ninguém faz drama, no Rio de Janeiro a venda da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) ameaça virar (mais um) fiasco. O que impressiona, no debate carioca, é o tom. A exaltação. O evidente conflito de interesses envolvido na discussão. Tudo isso, alguém poderia dizer, é previsível em um debate envolvendo a privatização de uma empresa pública. Não acho. Uma boa democracia precisa saber separar a lógica dos grupos de pressão do interesse difuso dos cidadãos. A conversa fiada ideológica da argumentação racional. Leio um artigo do deputado Marcelo Freixo dizendo que a Cedae “vale entre R$ 10 a 14 bilhões” e que os membros do governo estadual dizem valer R$ 4 bilhões. Na contabilidade do deputado, a Companhia, com seu bilionário passivo trabalhista, situa-se entre as 40 ou 50 empresas mais valiosas do País. O dado mais curioso, porém, é uma empresa possuir um valor “teórico” distinto do que alguém esteja efetivamente disposto a pagar por ela em uma concorrência pública. Alguém poderia explicar ao deputado Freixo que preços se definem no mercado. É por isso que se fazem leilões para vender uma empresa estatal, e o melhor a fazer é exigir o máximo de transparência nestes processos. O argumento mais esquisito que li veio inspirado pelo Papa Francisco. O sujeito citava a encíclica Lautato Si e chegava à surpreendente tese segundo a qual, sendo o acesso à agua um “direito humano essencial, fundamental e universal”, a Cedae não pode ser privatizada. Inútil lembrar que, por este argumento, também o acesso à comida não poderia ser “submetido às leis do mercado”. Mais esquisita ainda é a ideia ainda presente em nosso debate público, segundo a qual o que é “essencial” deve ser “público”, e o que é público deve ser “estatal”. Para além da retórica ideológica, há boas razões para se ter cuidado com o tema da privatização de serviços de agua e saneamento. Os críticos do modelo partem do fato de que sistemas de agua e saneamento são monopólios naturais e, nesta condição, exigem muito investimento, não permitem concorrência e carregam um amplo leque de obrigações sociais e ambientais. Logo, deveriam ser administrados pelo governo. Empresas privadas tenderão a encontrar brechas na legislação para investir menos em áreas mais pobres, desconsiderar efeitos negativos de sua atividade sobre o meio ambiente e, pior, tenderão a usar seu poder econômico para “capturar” seus reguladores, estejam eles no governo ou em agências independentes. Tudo isto é possível. Não passa de retórica vazia imaginar que a simples troca de gestão do governo para o setor privado irá melhorar um serviço de natureza monopolística. Os resultados irão variar imensamente segundo as regras do jogo, a qualidade dos contratos e do controle público. É sobre estes pontos que deveria estar concentrado o debate sobre a privatização da Cedae, no Rio de Janeiro. A experiência global no tema diz o seguinte: serviços privados de água e saneamento podem funcionar bem e atender aos mais pobres. Há mais de duas mil empresas privadas neste setor, operando nos Estados Unidos, atendendo a mais de 70 milhões de pessoas. O Chile tem sido um bom modelo de gestão privada de abastecimento, mantido pelos governos socialistas. A cidade de Indianápolis recentemente privatizou seu serviço de águas para um organização privada sem fins lucrativos. Há exemplos distintos. Cidades como Atlanta e Buenos Aires voltaram atrás e retomaram a gestão estatal de seus sistemas de abastecimento. Um estudo interessante, e com certeza útil para o debate brasileiro, foi realizado pelo economista argentino Sebastian Galiani, hoje Professor na Universidade de Maryland. Galiani mediu o impacto da privatização dos serviços de água sobre a mortalidade infantil, na Argentina. Crianças são mais vulneráveis a doenças transmitidas por água contaminada e falta de condições básicas de saneamento. Pois bem: na Argentina dos anos 90, 30% dos municípios privatizaram seus sistemas de agua. Um ótimo contexto para comparar os modelos. Os números mostraram o seguinte: na primeira metade da década, não houve diferença nos resultados entre a gestão estatal e privada. Na segunda metade, no entanto, a partir da consolidação do novo modelo, a redução da taxa de mortalidade nos municípios que fizeram a privatização foi 8% maior do que as que mantiveram o modelo estatal. Nas comunidades mais pobres, a diferença foi a 26%. O grande diferencial foi a expansão do investimento. Áreas mais pobres, antes sem cobertura, foram integradas às rede de abastecimento. Questões comuns, neste debate, parecem ser as seguintes: taxas tendem a subir logo após processos de privatização? A resposta é sim, em geral devido a longos períodos de ausência de investimento e “gestão política” de preços. Manter tarifas artificialmente baixas para todos significa apenas que os contribuintes como um todo estão subsidiando o consumo de quem eventualmente pode pagar. Estimulando, por vezes, o consumo irresponsável. Outra questão: o governo, em um sistema privatizado, pode subsidiar a oferta de agua para os mais pobres? Sim, com a vantagem de saber exatamente quem está sendo subsidiado e a que custo. E sem comprometer a eficiência da gestão. A comparação internacional, neste tema, é útil para evitar erros e fazer as perguntas certas, mas não responde a questão central: é melhor um sistema estatal ou privado? Por certo, sociedades com tradição de meritocracia, transparência e profissionalismo no setor público, e governos com capacidade de investimento tendem a tornar mais plausível a alternativa estatal. Pergunta rápida: é este o caso brasileiro? É este particularmente o caso do Estado do Rio de Janeiro? O ex-Governador de Nova York, Mário Cuomo, costumava dizer que “garantir a prestação de um serviço não implica sua execução pelo governo”. A frase é simples. Ela convida a pararmos, de uma vez por todas, de confundir o “público” com o “estatal” no debate brasileiro. Nos convida a um certo realismo. Precisamente o que parece estar faltando no debate hoje em curso no Rio de Janeiro.
A lógica infernal da burocracia no Brasil

Artigo originalmente publicado na revista Época Por que não conseguimos reduzir a burocracia no Brasil? Tenho um amigo que resolveu abrir uma MEI e virar “micro empreendedor individual”. O cara foi lá, abriu a empresa e começou a trabalhar. Prestou alguns serviços até que um cliente disse que só lhe pagaria se ele abrisse uma conta pessoa jurídica. O sujeito foi no banco abrir a conta e lhe pediram a carteira de identidade. Ele havia perdido a carteira mas tinha o passaporte e a carteira de trabalho. Não deu. Foi no Poupatempo fazer a identidade e lhe pediram a certidão de nascimento. Mostrou passaporte e outros papéis mas não adiantou. Precisava da certidão. Ele era novo em São Paulo e pediu para um parente revirar as coisas do apartamento, em Curitiba. O cara achou e mandou pelo correio. De volta ao Poupatempo lhe pediram dez dias para entregar a carteira. Depois voltou no banco, entregou a papelada, desta vez com a carteirinha, e lhe prometeram que em até dez dias terá uma resposta da análise dos documentos. O dinheiro ainda não recebeu, mas, como bom brasileiro, não desiste nunca. A burocracia no Brasil é sempre perfeitamente lógica. Não é lógico mostrar a identidade pra abrir a conta no banco? Além disso, cá entre nós, custa alguma coisa mostrar a certidão para fazer a nova carteirinha? Custava alguma coisa o sujeito andar com o documento em uma pasta, organizado, ao invés de deixar em uma gaveta no apartamento antigo? Qual é exatamente o problema? Diria que é exatamente este: cada exigência burocrática tem sua lógica e poderia ser, com alguma dose de organização, atendida por qualquer pessoa ou empresa. É exatamente este o caso das regras que compõem o cipoal do pagamento de impostos, no Brasil. Cada uma tem sua explicação. Meu contador, aliás, é mestre em me explicar, sempre que eu fico nervoso, a perfeita razão de cada uma. No conjunto, é por causa delas que estamos em 181º entre 190 países no ranking do Banco Mundial que mede a facilidade para pagar impostos. Por isso nossas empresas gastam 2.038 horas todos os anos para lidar com tributos, contra 163 horas na média dos países da OCDE. Também é por isso que estamos em último lugar no ranking de encargos trabalhistas elaborado entre 29 grandes economias pela Rede Internacional de Contabilidade e Consultoria UHY, com sede em Londres. Não faz sentido limitar os contratos temporários a noventa dias? Não é lógico pagar 40% de multa sobre o fundo de garantia do funcionário demitido? Não é lógico, aliás, que o dinheiro do fundo seja gerido por um conselho de vinte e quatro pessoas, junto à Caixa Econômica? O pessoal não iria torrar tudo, se cada maluco pudesse decidir por conta própria o que fazer com o seu dinheiro? É tudo perfeitamente lógico, não é mesmo? Semana passada, o Ministro Henrique Meirelles, prometeu reduzir a burocracia para pagar impostos. A promessa já havia sido feita no ano passado, mas não é esse o ponto. Meirelles tem crédito, entre outras coisas por que foi o arquiteto da PEC do limite do gasto público. Ele diz que há um time de técnicos do Ministério trabalhando para descobrir que regras, exatamente, é possível “desregrar”. Me lembrou o novo vereador paulista, Fernando Holiday, e sua ideia de fazer um “revogaço” na cidade de São Paulo. Ao invés de criar novas regras, descriar. Achei a ideia muito boa. Oxalá ela inspire vereadores, deputados e grupos de cidadãos, Brasil afora. Apenas acho que nosso problema é muito mais amplo do que suprimir essa ou aquela regra tributária ou trabalhista. Vamos lá: por que precisamos de um título de eleitor? Por que cargas d’agua precisamos (eu mesmo, desatento, descobri isso tempos atrás) renovar a carteira de motorista a cada cinco anos? Pra que o pobre coitado que acabou de ficar desempregado tem que gramar na fila de uma agência do Sine para tirar o seguro desemprego? Revirar essas coisas é mexer com o Brasil barroco que nos tornamos. Não são apenas as duas mil horas que as empresas gastam para lidar com seus impostos. É o tempo incontável que perdemos todos os dias para carimbar o óbvio em cartórios e pagar multas de R$ 3,51 porque não fomos votar nos dois turnos das últimas eleições. País barroco e imensamente difícil de mudar. Por uma razão: em que pese concordamos que toda essa burocracia, no conjunto, passou do ponto, garanto que a opinião será outra quando passamos a analisar regra por regra, documento por documento, multa por multa. A cada regra corresponderá uma certa “racionalidade” e um grupo disposto a defendê-la. E mais: a supressão de cada regra não fará grande diferença na vida de ninguém, mesmo que a soma de todas as regras possa piorar muito a vida de todo mundo. Por essa razão prosaica, o desejo abstrato de fazer a grande mudança pode ser forte, mas é fraco o incentivo concreto para fazer cada reforma. É exatamente o mesmo problema enfrentado pelos projetos de redução do tamanho do Estado. A extinção de qualquer órgão público não resolverá o problema fiscal, ainda que uma redução coordenada de muitas repartições, autarquias, fundações, empresas e fontes de gastos não prioritários poderá oferecer uma resposta. Arrisco dizer que nos tornamos um país campeão em burocracia essencialmente porque o individuo, o “sem corporação”, é sub representado em nosso mundo político. Ninguém para pra perguntar, numa tarde quente de Brasília, ao se discutir uma nova regra, se ela é estritamente necessária e quantas horas da vida de um cidadão ela vai custar. É no silêncio dessas tardes quentes que perdemos a mão. Há um problema ético aí. Um punhado de gente por vezes bem intencionada toma decisões e todos pagam a conta. De bico calado. Encaramos o cartório, carregamos nossos documentos, nos adaptamos. Formamos filas, nos domingos de votação, pra “justificar a ausência”, pagamos as multas e corremos atrás da papelada. E de vez em quando damos um jeitinho. Não queremos saber
O que é mais importante: eliminar a pobreza ou combater os mais ricos?
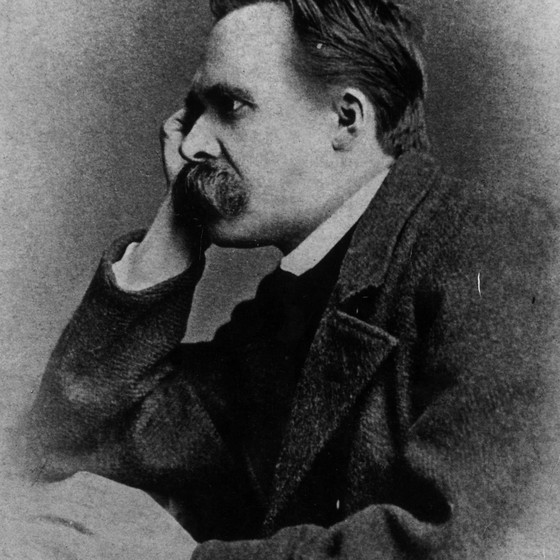
Publicado originalmente na revista Época Alguém aí está preocupado com o tamanho da conta bancaria de Jeff Bezos? Bezos é o criador e principal acionista da Amazon. De vez em quando eu adquiro um livro por lá. Leio um trecho grande que eles disponibilizam no site e, se achar bacana, vou lá e compro. Não dou a mínima para a posição de Bezos no ranking de bilionários globais. Suspeito que ele também não. Eu leio meu livro e ele ganha alguma coisa com isso. Estamos quites. O mesmo vale para um espanhol discreto chamado Amâncio Ortega. Filho de um ferroviário de Valladolid, Amâncio começou trabalhando como office-boy em La Coruña, aos quatorze anos. Nos anos setenta criou a Zara e fez uma pequena revolução no varejo, não isenta de altos e baixos. De vez em quando compro uma camisa por lá. Sorte de quem comprou ações da Zara, tempos atrás. A valorização foi de 580% entre 2008 e 2016. Para uns, a Zara trabalhou bem e muita gente investiu na empresa para ganhar algum dinheiro. Para outros, o capitalismo “concentrou” riqueza. Ortega e Bezos fazem parte da lista de oito bilionários que a ONG global Oxfam, em relatório recente, afirma possuírem uma riqueza equivalente à metade mais pobre dos seres humanos. Segundo a Oxfam, se trata de uma aberração. Talvez seja mesmo. Talvez o mundo fosse melhor sem essa turma de bilionários abrindo lojas reais e virtuais, vendendo livros, roupas e oferecendo ações no mercado. Talvez não. Vai que o problema esteja do outro lado da pirâmide. Na falta. É o que vamos discutir rapidamente a seguir. O relatório sustenta que o rendimento dos mais ricos, mundo afora, não é proporcional ao valor efetivamente adicionado à atividade econômica. Inútil perguntar como os técnicos da Oxfam fizeram esta conta. Não há, por óbvio, cálculo nenhum. Apenas uma colagem de notícias dispersas e narradas de um certa maneira. Elas vão desde a existência de paraísos fiscais, passando pela esperteza dos contadores que fazem planejamento tributário, privatizações russas, subsídios e isenções fiscais, políticas de austeridade, pela destruição de terras indígenas no Brasil até o lobby da indústria farmacêutica contra a Tailândia e a crise na indústria têxtil de Bangladesh. A colagem produz uma narrativa trágica do mundo atual. Um “sistema” ordenado para beneficiar o 1% mais rico e liderado por gente que sabe o que faz. A colagem também funciona para a estatística. O relatório diz que a riqueza dos 62 seres humanos mais ricos cresceu 45% entre 2010 e 2015, enquanto a metade mais pobre perdeu 38%. O mesmo gráfico, porém, mostra que, nos dez anos anteriores, a riqueza da metade mais pobre cresceu 3,5 vezes mais do que a conta bancaria dos 62 felizardos. O que isto significa? O capitalismo era bacana até o natal de 2010 e se tornou “obsceno a partir de 2011? Perfeita falácia estatística. Padrões de renda e crescimento econômico apresentam enormes variações de curto prazo, mas é possível perceber uma tendência ao longo do tempo. O relatório da Oxfam traz à tona mais uma vez uma das perguntas fundamentais da nossa época: devemos, como sociedade, priorizar a eliminação da pobreza ou o combate aos mais ricos? Alguém sempre poderá dizer que as duas respostas estão erradas. Que a prioridade deve ser bem mais modesta: preservar a liberdade, a igualdade diante da lei e não ficar imaginando coisas. É possível. Mas por ora deixo de lado essa alternativa e concedo que tenhamos que decidir sobre um conceito de “justiça social”. E há duas opções: a guerra aos ricos ou a guerra à pobreza. Os que optam pela guerra aos mais ricos não chegam a dizer, em regra, que os 50% da base da pirâmide está mais pobre porque um punhado de bilionários está enriquece demais. Mas essa é a sua mensagem. Trata-se de um exercício de correlação com uma vaga causalidade. Também não se explica em que consistiria uma “desigualdade razoável”. Vamos imaginar que a riqueza da metade mais pobre correspondesse à fortuna dos 800 mais ricos, ao invés de oito. Faria alguma diferença? Quem acha que a desigualdade é importante deveria definir essas coisas, dizer qual é, afinal de contas, a linha vermelha de assimetria de renda que não devemos cruzar. Ou quem sabe bastem apenas as impressões e intuições de quem escreve um relatório? Não sei. Fui em frente. Meu ponto: concentrar o foco de uma visão sobre a justiça social no combate à desigualdade ou aos mais ricos é simplesmente um erro. Entre 1990 e 2010 (o próprio relatório da Oxfam reconhece isto), a proporção de pessoas vivendo na extrema pobreza caiu de 36% para 16%. Houve um incremento da igualdade entre os países, ainda que um aumento da desigualdade de renda em países avançados como os Estados Unidos, França e Inglaterra, assim como na China e na Índia. A revolução tecnológica produziu ganhos assimétricos. Os muito ricos ganharam, mas ganhou também uma enorme e multiforme camada de trabalhadores pobres do mundo em desenvolvimento. É o caso da ascensão da chamada “classe C”, no Brasil. Nada muito diferente do que ocorreu na maioria dos países latino-americanos. A própria ONU identificou o equívoco da “narrativa da desigualdade”. Eliminar a pobreza extrema do planeta até 2030 é a primeira de suas “metas para o desenvolvimento sustentável”, lançadas em 2015. A ONU acertou o foco. Ninguém daria a mínima para a desigualdade se não fosse a existência da pobreza. Este é o ponto enfatizado pelo filósofo Harry Frankfurt, professor em Princeton e autor de On Inequality. Não há um problema ético na distância que separa a renda da classe média bem estabelecida e dos mais ricos. Se todos tivessem o suficiente, ninguém daria atenção ao valor das ações de Amâncio Ortega no pregão de segunda-feira. O ponto é que errar o foco em um tema delicado como este acaba por produzir imensos equívocos na formulação de políticas públicas. No Brasil a carga tributária alcançou 32,7% do PIB em 2015. Será mesmo que nosso problema é aumentar
El Caballo e a sedução das grandes palavras

(artigo publicado na Revista Época, em novembro de 2016, por Fernando Luís Schüler) “No futuro, todos que não forem partidários de Fidel, serão acusados de imoralidade”, escreveu o cronista Miguel Bauza, em um artigo publicado no jornal Bohemia, em dezembro de 1955. À época, Fidel achava-se na cidade do México, preparando o desembarque guerrilheiro na Ilha, e ainda havia imprensa circulando livremente pela Ilha de Cuba. Não demorou muito para que a profecia de Bauza se fizesse história. Infinitas histórias. Uma delas foi a de Mario Chanes, morto em 2007, no exílio. Mário desembarcou com Fidel a bordo do Gramna e lutou na Sierra Maestra. Acreditava na promessa de uma democracia para Cuba. Ainda em 1959, divergiu dos rumos da revolução, foi condenado e encarcerado por 31 anos, tornando-se o preso político mais longevo do mundo. Outra foi a história de Pedro Boitel, a jovem promessa da revolução, que em 1960 ousou se candidatar a uma posição na federação universitária de Cuba, contra a orientação de Castro. Encarcerado, condenado a 30 anos de prisão, morreu em 1971, depois de uma greve de fome de 53 dias, com a mãe, antiga conhecida de Fidel, em vigília ao lado do presídio de Castilho del Príncipe, em Havana. Pedro e Mário não cometeram crime algum. Eram mesmo revolucionários de primeira hora. Mas cometeram, como muitos cubanos, nestes 58 anos, o grande pecado anunciado por Bauza. Castro chega ao poder no ano novo de 1959 e lá permanece até sua morte em novembro de 2016. Formalmente, deixou a função de Presidente de Cuba e Chefe das Forças Armadas em 2006, mas manteve o poder em família, até o fim, com seu fidelíssimo irmão Raul. Em qualquer conta que se faça, Fidel foi o mais longevo ditador da era contemporânea, superando mesmo o norte-coreano Kim Il-Sung, que permaneceu por 46 anos no poder. Há algumas unanimidades nos juízos que sobre ele se fazem: a obsessão quase doentia pelo poder, a autoconfiança quase mística, o carisma. Há também controvérsias. A maior de todas seguramente é sobre como foi possível preservar um regime socialista ortodoxo durante todo este tempo, muito além da dissolução do bloco soviético. Há muitas respostas. Carlos Alberto Montaner possivelmente exagere quando diz: pelas mesmas razões que a ditadura da família Kim permanece no poder, na Coréia do Norte. Ok, há algo que ver com isto. Há o aparato repressivo, o sistema do medo. Mas seguramente o tema é mais complexo. Os historiadores terão, doravante, tempo e material suficiente para desvendar o mistério. Fidel é filho de Angel Castro, imigrante galego chegado a Cuba em 1898. Angel foi um self made man cubano. De cortador de Cana, trabalhando para a United Fruit Company, terminou seus dias como um grande proprietário de terras em Birán, ao norte de Cuba. Foi-se aos 80 anos, poucas semanas antes do desembarque do filho rebelde na praia Las Coloradas, a bordo do Gramna. Graças à seu sucesso empresarial, pode oferecer a melhor educação a Fidel, incluindo os anos de ensino intermediário no Colégio de Belém, de orientação jesuíta. Instituição devidamente expulsa da Ilha, depois da revolução. Angel tentou, durante anos, fazer com que o filho abandonasse a política, sem sucesso. Fidel ingressa na Universidade de Havana em 1945, como estudante de direito, e imediatamente mergulha em um ativismo político desenfreado. De estatura elevada, exímio orador, ávido por sucesso, surge como “el caballo”, o bicho das guerras estudantis da Havana dos anos 40. Ora podemos vê-lo embarcando da tentativa de invasão de Santo Domingo; ora discursando, com os olhos vidrados, ao lado da estátua Alma Mater, nas escadarias da Universidade; ora pondo em ação seu faro midiático, como no translado do sino da independência, o Demajagua, para a Universidade de Havana, em novembro de 1947, em uma ação espetacular contra o governo do Presidente Ramon Grau. Data desta época sua conversão ao marxismo. Na virada dos anos 50, torna-se um revolucionário profissional. Deixa que Mirta, sua primeira mulher, viva em um quarto de hotel no centro de Havana, quase sem dinheiro, com o filho pequeno. Mirta depois o abandona. Se casa com um jovem inimigo político de Castro, filho do embaixador de Cuba na ONU. Fidel não lhe perdoará. Anos depois, literalmente, sequestra o filho, Fidelito, para viver na casa de amigos, em seu exílio mexicano. No dia 26 de julho de 1953, à frente de um grupo mal preparado de 160 combatentes, faz sua aposta mais ousada, com a invasão do Quartel de Moncada. A ação termina com 61 mortos, é um fiasco, mas serve para transformar Fidel em um ícone internacional. Recebe um julgamento aberto, e lhe é permitido fazer a própria defesa. Com menos de dois anos de prisão, é anistiado. A tomada do poder, em janeiro de 1959, foi sua obra prima. Na Sierra Maestra, cria o mito dos “barbudos”, jovens idealistas cujo único objetivo era a libertação de Cuba do tirano Fulgêncio Batista, a reconstrução democrática, a convocação de eleições livres. Uma vez no poder, empossou um presidente fantoche, Manuel Urrutia, e em poucos meses suprimiu todas as “retrancas” institucionais que poderiam limitar de algum modo seu poder. Esqueceu-se das eleições, proibiu os partidos políticos, fechou o parlamento, promoveu um amplo expurgo na Universidade de Havana, fuzilou alguns milhares de opositores (fala-se em quatro mil, nos três primeiros anos da revolução, mas as estatísticas são imprecisas). Fechou todos os órgãos de imprensa independentes, incluindo a tradicional revista Bohemia, a os jornais Prensa Libre e o Diário de la Marina, este último fundado em 1832. O “método” era sempre o mesmo: o progrom de estilo fascista, a invasão da redação pela turba militante, a conivência policial, e logo a fuga dos chefes de redação e proprietários para alguma embaixada próxima. Foram os anos de ouro do panóptico sinistro da Ilha de Pinos, o presídio modelo que abrigava, no início dos anos 60, mais de oito mil presos políticos. No poder, Castro enuncia a equação demiúrgica que lhe permite prosseguir no comando da Ilha, indefinidamente: “a
“A esquerda precisa fazer as pazes com a economia e a democracia”

Artigo originalmente publicado na revista Época Demétrio Magnoli escreveu um artigo, dias desses, sugerindo que a presidente Dilma aproveite o tempo livre pós- impeachment para refletir sobre seus erros. A sugestão é boa. A primavera logo chega, e nada melhor do que pedalar à beira do Guaíba, em Porto Alegre, refletindo sobre os próprios equívocos. Já fiz coisa parecida, confesso, no pior do inverno gaúcho. Não creio, porém, que Dilma fará nada disso. É uma mulher de muitas certezas, como aliás parecem ser as pessoas que a cercam. Pessoas que lhe entregam flores, por onde chega, que carregam sua imagem de guerrilheira, ainda jovem, à frente de um inquérito militar. E tem o Chico a lhe dar razão, não é mesmo? Por que ela faria autocrítica? Alguém que resistiu à tortura e superou uma doença difícil? Nem pensar. Se alguma coisa deu errada no seu governo, não foi culpa dela. Seu novo mantra já está definido: voltaremos. Dilma voltará como um personagem secundário nos livros de história. Na política real, é carta fora do baralho. A questão que me parece relevante diz respeito ao destino do PT. O partido prosseguirá relevante na política brasileira? Ninguém tem boa de cristal para saber se Lula irá ou não sobreviver à Lava Jato. Lula tenta derrotar a justiça e o Juiz Sérgio Moro fazendo política. É possível que vença a parada. Se vencer, o PT ainda terá o maior líder político do País. Se perder, o PT sofrerá uma diáspora de quadros, mas ainda será um partido relevante no contexto da esquerda brasileira. A pergunta correta a fazer, é: O PT reconhecerá os seus erros? De um modo mais amplo, a esquerda brasileira é capaz de revisar posições e se reinventar? Ok, estamos muito em cima dos fatos, há cicatrizes, ninguém gosta de perder o poder assim desse jeito. A turma quebrou umas paradas de ônibus, na Paulista, depredou a sede do PMDB, em Porto Alegre, chamou todo mundo de golpista, canalhas e outras mesmices. Mas depois que a raiva passar, a esquerda vai mudar o disco e fazer uma autocrítica? Será capaz de se reinventar? Acho que isto seria ótimo para a própria esquerda, para o PT, e principalmente para nossa democracia. Mas não acredito, infelizmente. Estamos falando de pessoas treinadas para entender a verdade como um “campo de luta”. Como coisa que se “constrói”. Falamos de gente que anda do lado certo da história, para quem a dúvida é uma forma por vezes sutis de traição. De qualquer modo, me arrisco a dar algumas sugestões. Uma delas é o pessoal aproveitar o tempo livre e prestar atenção a coisas novas que andam sendo ditas neste Brasil cansado de passado. Uma delas li em um belo artigo do Professor Celso de Barros, do IPEA, dias atrás. Sua tese é a de que o PT e a esquerda devem fazer as pazes com a economia. Se a ideia é dar a volta por cima e algum dia voltar ao poder, é preciso que a esquerda faça uma ampla revisão de sua visão sobre a economia de mercado e como se nela se encaixa os interesses dos mais pobres. Barros parece acreditar que é possível abrir a cabeça da esquerda. Convence-la de que não é a negação da racionalidade econômica que define o sentido de uma esquerda contemporânea. Que ela se define justamente por compatibilizar a racionalidade econômica com políticas de “distribuição de renda e oportunidades”. Barros sugere uma visão “agnóstica” sobre política econômica: “o que funcionar, funcionou”. Diz que responsabilidade fiscal deveria ser um valor especialmente caro para quem quer um estado forte e ativo. Sugere abandonar a aversão congênita à privatização e outras bobagens. Como a ideia de achar que toda política de austeridade é sempre contra os mais pobres, ou que todo aumento de juros é sempre uma concessão ao “rentismo”. A tentativa de sofisticar um pouco a esquerda é generosa, mas não imagino que produza resultados. Não consigo imaginar um congresso do PT aprovando resoluções sobre “manter o equilíbrio das contas públicas, corrigir o déficit estrutural da previdência, oferecer previsibilidade ao mercado, inflação no centro da meta” e coisas assim. Seria ótimo para nossa democracia ter uma esquerda desse calibre. Em alguma medida, ela existe, muito tímida, espalhada pelo PSDB, PMDB, PPS, PSB, REDE. O ponto é que ela é minoritária no petismo e seus aliados. Ideias desse tipo estiveram presentes na equipe econômica do Ministro Palocci, no primeiro governo Lula. Equipe de alto padrão, afinada com o que se poderia esperar de uma esquerda moderna. O ponto é que vivíamos uma época especial. Um ciclo de expansão da economia global, boom das commodites, com os frutos de um País que havia passado pelo ciclo de reformas dos anos 90. O PT e sua base sindical toparia uma política de rigor fiscal em tempos difíceis? As evidências não parecem favorecer muito esta hipótese. Se a esquerda quiser de fato se reinventar, dou uma sugestão: invistam algum tempo, de cabeça aberta, observando a experiência internacional. Vejam onde isto aconteceu. Há exemplos por toda parte. Em todos eles há o elemento “agnóstico”. A capacidade de dar um chega pra lá na ortodoxia e observar o mundo a partir de dados, evidências e boa dose de bom senso. Observem, por exemplo, o que aconteceu com a esquerda chilena, sob a liderança de Ricardo Lagos e sua Concertación. Lagos consolidou a democracia chilena ao mesmo tempo que soube preservar as conquistas da liberalização econômica, tornando o Chile um raro caso de sucesso econômico na América Latina; observem Vaclav Ravel, o poeta-estadista do Lanterna Mágica, no coração de Praga, com sua revolução de veludo e a formação da República Tcheca; observem ainda Mandela e sua imensa capacidade de esquecer. De construir consensos onde só se imaginava lugar para o de revanchismo. E de mudar, adotando uma visão liberal da economia que ajudou a África do Sul a crescer aceleradamente nos anos pós-apartheid. Acertar as contas com a economia, porém, é a apenas uma parte
Lei Rouanet: hora de modernizar

A Lei Rouanet foi criada sob a batuta do então Secretário Nacional de Cultura, Sérgio Paulo Rouanet, em 1991, na segunda fase do governo Collor. A antiga lei Sarney havia sido extinta e a ideia era fazer uma legislação de incentivo mais transparente e com maior controle público sobre o uso dos recursos. Lembro de uma longa conversa que tive à época com Rouanet, em uma vinda sua a Porto Alegre. Sua preocupação era criar uma lei de parceria público-privada, em que o governo – leia-se: os contribuintes – aportassem uma parte dos recursos e uma outra parte fosse investida pelas empresas. Essa foi a lógica que inspirou o que conhecemos como Artigo 26º da Lei Rouanet. A empresa abate 30% ou 40% do valor apoiado em seu Imposto de Renda, além de inscrever o valor como despesa, em sua contabilidade. No total, tem um abatimento real de pouco mais de 60%. Apoiando um projeto com R$ 100 mil, a empresa tira de seu caixa em torno de R$ 36 mil. Um bom negócio, supondo um bom aproveitamento em termos de marketing cultural e atitude junto à sociedade. A segunda maior preocupação de Rouanet era criar um lei que evitasse certos “excessos” registrados com a Lei Sarney. Havia rumores sobre desvios e apoios a projetos sem uma clara natureza cultural. Nunca soube nada objetivo sobre isto, mas vá lá. Esta era a preocupação. O foco do governo era de que o Estado deveria ter controle sobre o uso dos recursos. Aprovar projeto por projeto e depois analisar sua prestação contas. E mais: evitar qualquer subjetivismo na análise. O Estado não deveria ter opinião cultural. A lei Rouanet, com alguns deslizes, sempre foi assim: uma lei “não perfeccionista”. A aprovação de projetos sendo feita por uma comissão mista, a CNIC, formada por membros do governo e representantes de diversos setores culturais. A Lei “pegou”. Seu uso cresceu, ano a ano, e começou a surgir, no Brasil, um amplo setor especializado em marketing cultural. Lembro de Roberto Muylaert, Cândido Mendes e tantos outros. O foco era claro: se a empresa aporta recursos, era preciso que o investimento fizesse sentido do ponto de vista de sua estratégia de comunicação. Ocorre que, no final dos anos 90, a Lei foi modificada. O Ministério da Cultura atendeu à pressão dos produtores culturais e alterou a redação do Artigo 18, criando o incentivo de 100% para certos segmentos culturais (teatro, dança, música instrumental, livros de arte, entre outros). A modificação seguia a trilha da chamada “lei do audiovisual”, que oferece incentivos de 125% às empresas, para apoio a projetos audiovisuais. Isto é: para cada R$ 100 mil aportados em um filme, sai R$ 125 mil do bolso do contribuinte. A partir daquela modificação, boa parte do que se chama de marketing cultural, no Brasil, foi transformado um exercício de “aproveitamento fiscal”. Criou-se a ideia de que o dinheiro para a cultura “não custa nada”. As empresas fazem o seu marketing e os contribuintes pagam a conta. Não vai aqui uma crítica às empresas e produtores culturais. Agentes econômicos agem segundo incentivos, e isto não foi diferente com a lei Rouanet: a “dominância fiscal” passou a ser a regra do jogo. O aporte efetivo de recursos, com a Lei, ultrapassa R$ 1,3 bilhão/ano. O maior captador, no último exercício, foi uma produtora de grandes musicais, e o controle do Estado não impediu que a Lei fosse usada para financiar projetos de apelo comercial, como as turnês de Claudia Leitte e Luan Santana, o Cirque du Soleil e o Rock in Rio. A lei anda sob debate público, e talvez seja a hora de encarar algumas mudanças. A primeira pergunta a fazer, é: o Brasil ainda precisa de uma lei de incentivo à cultura? Em sua ideia original, a Lei deveria ser transitória. Favorecer o surgimento de um mercado cultural autossuficiente e desaparecer. Como em regra ocorre com os incentivos, ocorreu o contrário: o mercado se tornou dependente do dinheiro público. A segunda questão, é: não é hora de revisar a lógica do abatimento integral? Não é hora de retomar o projeto original do Secretário Rouanet, de fazer uma lei de parceria público-privada? Se for esta a intenção, me parece que há um caminho: eliminar a dicotomia entre os Artigos 18º e 26º, que discriminam as áreas culturais, e preservar apenas uma regra de incentivo. Ela pode oferecer 50% de abatimento e permitir a inscrição do valor do apoio como despesa operacional. Isto levaria o abatimento total a mais de 80%. É alto. Mas é um primeiro passo no retorno à lógica da parceria. Com uma vantagem: permite que a empresa enquadre metade do valor apoiado nos 4% de seu Imposto de Renda devido (limite máximo que a Lei autoriza). O apoio total irá, na prática, a 8% do imposto devido. O dobro do que hoje é praticado. Alguns dirão que isto faria diminuir os investimentos em cultura. Bobagem. Em pouco tempo, eles iriam aumentar. E com mais critério e qualidade. Torço para que a nova equipe do Ministério encare estas mudanças. Elas farão bem à cultura brasileira. Fernando L. Schüler é Doutor em Filosofia (UFRGS) e professor do Insper, em São Paulo.

